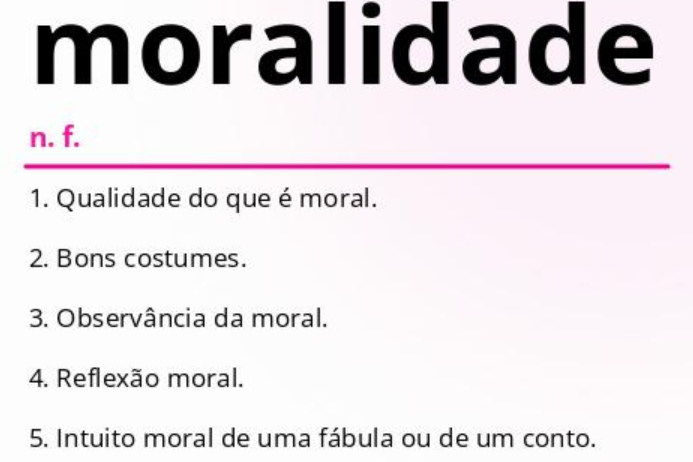Um recente aumento da violência por motivos políticos, dramaticamente enfatizado pelo chocante assassinato de Charlie Kirk, deixou muitos americanos a questionar-se como chegámos a um ponto em que activistas políticos estão cada vez mais a tentar resolver as suas divergências não oferecendo argumentos racionais, participando em debates civis, votando ou aplicando o estado de direito, mas sim proferindo insultos, cancelando oradores opostos, disparando balas e impondo autoridade executiva em desafio à lei.
O que correu mal? Estas divisões partidárias estão a ser enquadradas em grande parte em termos de moralidade. Os oponentes não são vistos simplesmente como errados nas suas opiniões e escolhas pessoais; são vistos como irremediavelmente maléficos — os oponentes partidários são vistos como criaturas odiosas e malévolas que não podem ser dissuadidas de representar uma ameaça existencial para os outros.
Se alguém realmente acredita que os objectivos políticos da oposição são intoleráveis e que não é possível dialogar com os oponentes, então eles serão inevitavelmente tratados como inimigos mortais, e não como compatriotas americanos.
Mas será que há algo de errado com as doutrinas supostamente éticas que abandonam a persuasão racional e, em vez disso, procuram obrigar à conformidade? A bondade é um atributo universal que exige obrigar todos a alcançar o bem colectivo, independentemente do que pensam? Ou a bondade é um atributo pessoal, em que não recorremos à compulsão, a menos que alguém infrinja a busca pacífica do bem individual de outra pessoa?
No capítulo 8 de Acção Humana, Ludwig von Mises argumentou que a ética de colectivismo é falaciosa. Ele identificou uma contradição inerente em subordinar julgamentos morais independentes a um código universal imposto pelo estado:
O universalismo e o colectivismo são, por necessidade, sistemas de governo teocrático. A característica comum a todas as suas variedades é que postulam a existência de uma entidade sobre-humana à qual os indivíduos são obrigados a obedecer. O que os diferencia uns dos outros é apenas a denominação que dão a essa entidade e o conteúdo das leis que proclamam em seu nome. O governo ditatorial de uma minoria não pode encontrar outra legitimação além do apelo a um suposto mandato obtido de uma autoridade absoluta sobre-humana. Não importa se o autocrata baseia as suas reivindicações nos direitos divinos de reis ungidos ou na missão histórica da vanguarda do proletariado, ou se o ser supremo é chamado de Geist (Hegel) ou Humanité (Auguste Comte). Os termos sociedade e estado, tal como são usados pelos defensores contemporâneos do socialismo, do planeamento e do controlo social de todas as actividades dos indivíduos, significam uma divindade. Os sacerdotes deste novo credo atribuem ao seu ídolo todos os atributos que os teólogos atribuem a Deus — omnipotência, omnisciência, bondade infinita e assim por diante.
Na passagem acima, Mises observou que a ética universalista implica um abandono do discurso racional. Um bem colectivo necessariamente carece de fundamento na experiência humana, pois os seres humanos apenas pensam, sentem, percebem e agem como indivíduos. A persuasão racional não é possível quando não há fatos ou verdades evidentes que possam ser citados a seu favor. Um colectivista só pode citar decretos arbitrários de algum ídolo incompreensível.
Mas sem a persuasão racional para construir um consenso amplamente compartilhado para um bem colectivo específico, como é que os colectivistas podem esperar resolver as divergências entre si? Mises continuou a diagnosticar o que acontece nesse caso:
Para o crente fiel, não pode haver qualquer dúvida; ele está totalmente confiante de que abraçou a única doutrina verdadeira. Mas é precisamente a firmeza de tais crenças que torna os antagonismos irreconciliáveis. Cada parte está preparada para fazer prevalecer os seus próprios princípios. Mas como a argumentação lógica não pode decidir entre vários credos divergentes, não há outro meio para a resolução de tais disputas além do conflito armado. As doutrinas sociais não racionalistas, não utilitárias e não liberais devem gerar guerras e guerras civis até que um dos adversários seja aniquilado ou subjugado. A história das grandes religiões do mundo é um registo de batalhas e guerras, assim como a história das religiões falsas actuais, o socialismo, a estatolatria e o nacionalismo.
A ética colectivista, em resumo, é uma receita para a violência. Qualquer código moral que afirme que a coexistência pacífica com indivíduos imorais é impossível torna a própria paz impossível. Mises não apenas diagnosticou a propensão colectivista para a violência, mas também apontou o caminho para uma solução individualista pacífica:
Ao lutar por seus próprios interesses — correctamente compreendidos —, o indivíduo trabalha para intensificar a cooperação social e o convívio pacífico. A sociedade é um produto da acção humana, ou seja, do impulso humano de remover a inquietação tanto quanto possível. Para explicar o seu surgimento e evolução, não é necessário recorrer a uma doutrina, certamente ofensiva para uma mente verdadeiramente religiosa, segundo a qual a criação original seria tão defeituosa que é necessária uma intervenção sobre-humana reiterada para evitar o seu fracasso.
O papel histórico da teoria da divisão do trabalho, tal como elaborada pela economia política britânica de Hume a Ricardo, consistiu na completa demolição de todas as doutrinas metafísicas relativas à origem e ao funcionamento da cooperação social. Consumou a emancipação espiritual, moral e intelectual da humanidade inaugurada pela filosofia do epicurismo. Substituiu a ética heterônoma e intuicionista dos tempos antigos por uma moralidade racional autónoma. A lei e a legalidade, o código moral e as instituições sociais já não são reverenciados como decretos insondáveis do Céu. São de origem humana, e o único critério que lhes deve ser aplicado é o da conveniência em relação ao bem-estar humano.
Aqui, Mises manteve a esperança de que, pelo menos, as religiões que abraçavam uma visão benevolente da criação não invejariam a busca do homem pela felicidade dentro de um mundo criado. Ele também mencionou duas tradições filosóficas seculares de importância crucial que foram historicamente significativas na justificação dos princípios liberais clássicos, uma pioneira do empirista britânico David Hume no início do século XVIII e outra do filósofo grego helenístico Epicuro, por volta de 300 a.C.
Hume afirmou que não se pode derivar qualquer “dever” prescritivo apenas a partir de afirmações factuais e descritivas do “ser”. Dado um valor “dever” último, na melhor das hipóteses, pode-se citar factos para argumentar que algum “dever” subordinado é instrumental para optimizar a busca do valor último, mas a escolha do valor último em si não pode ser justificada por tais factos. Mises endossou o cepticismo ético de Hume. Em consonância com filósofos utilitaristas posteriores, Mises argumentou que, embora não possamos mudar as opiniões uns dos outros sobre valores definitivos, podemos pelo menos reconhecer que a esmagadora maioria das pessoas precisa de paz e prosperidade para optimizar os valores definitivos divergentes que de facto escolheram.
De acordo com a teoria económica isenta de valores, uma ordem social baseada na liberdade e na propriedade privada é o que optimiza a obtenção de paz e prosperidade. Quando combinado com o facto de que a grande maioria das pessoas prefere o seu próprio bem-estar pessoal ao derramamento de sangue e à pobreza, chegamos à conclusão utilitarista de que essa grande maioria deve apoiar valores políticos libertários para melhor realizar as suas escolhas pessoais, em vez de se matarem uns aos outros e minarem a cooperação social numa tentativa vã de corrigir a moral uns dos outros.
Ao contrário dos utilitaristas, Epicuro baseou a sua defesa dos valores individualistas numa concepção positiva de um valor supremo. Epicuro rejeitou o cepticismo ético dos antigos predecessores de Hume, apontando que uma escolha arbitrária de valores em conflito com o desejo inato do homem pela felicidade não pode ser colocada em prática de forma consistente, pois tal conflito produz distúrbios mentais que a psicologia moderna e as neurociências classificam como dissonância cognitiva. Uma vez que não faz sentido recomendar valores a menos que possam ser realizados de forma consistente, uma formulação racional da ética deve reconhecer que a busca da própria felicidade é a única escolha logicamente coerente de um fim último para um indivíduo.
A ética epicurista não trata a felicidade como algo que surge apenas de experiências momentâneas e passivas de prazer. Em vez disso, o intelecto do homem permite-lhe aprender a apreciar os prazeres de toda uma vida e a agir para os alcançar, tanto criando prazeres futuros como relembrando prazeres passados. A necessidade de pensar e agir por conta própria para permitir o desfrute desses «prazeres mentais» implica uma preferência por circunstâncias sociais que respeitem a autonomia intelectual e moral do indivíduo. De acordo com um antigo biógrafo, Epicuro apoiava a propriedade privada em detrimento da propriedade comunitária, considerando que a busca de bens colectivos se baseava na desconfiança mútua, provavelmente porque as associações colectivistas, mesmo quando voluntárias, contradizem os requisitos psicológicos essenciais para optimizar a felicidade pessoal. Os argumentos epicuristas e utilitaristas complementam-se no seu apoio aos princípios libertários.
Enquanto alguns críticos erroneamente rejeitam o libertarianismo como mero “fundamentalismo de mercado” e indiferente às preocupações culturais e morais, Mises oferece razões convincentes — derivadas dos ensinamentos de seus antepassados filosóficos — explicando por que a busca da moralidade deve ser um esforço inerentemente pessoal. Em vez de fanáticos do colectivismo presunçosamente presumindo julgar o quão bom é o povo americano, precisamos de julgar o quão justo e honrado o estado está a ser no que diz respeito à formulação e aplicação das suas leis. Se os Estados Unidos desejam rejeitar a violência, a miséria, o empobrecimento e o derramamento de sangue inerentes ao colectivismo, então os americanos devem abraçar a separação entre moralidade e Estado.
Artigo publicado no Mises Institute.