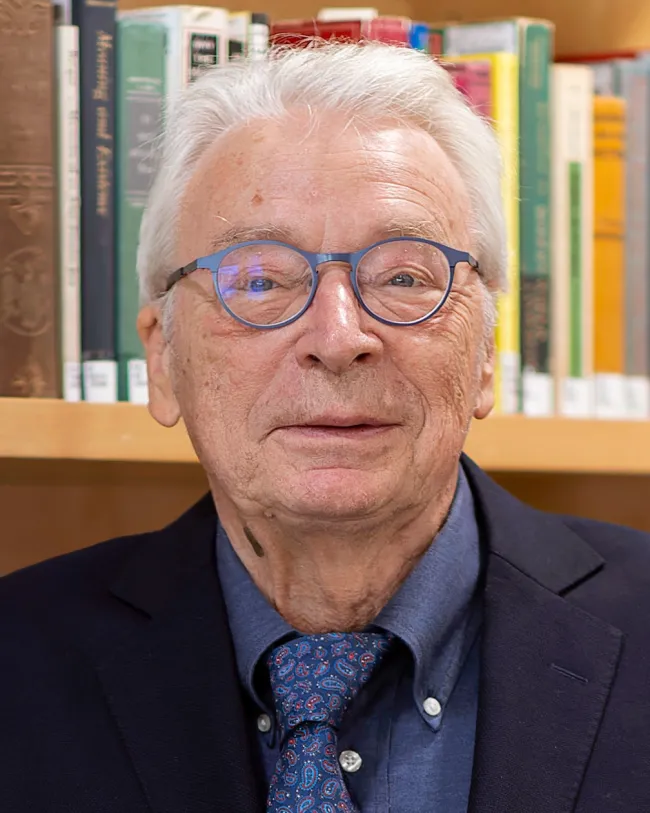I.
No sentido mais fundamental, todos nós, com cada uma das nossas acções, somos sempre e invariavelmente empreendedores à procura de lucro.
Sempre que agimos, empregamos alguns meios físicos (coisas valorizadas como bens) — no mínimo, o nosso corpo e o espaço que ele ocupa, mas, na maioria dos casos, também várias outras coisas «externas» — de modo a desviar o curso «natural» dos acontecimentos (o curso dos acontecimentos que esperamos que ocorram se agirmos de forma diferente) para alcançar um estado futuro mais desejável e valorizado. Com cada acção, pretendemos substituir um estado futuro menos favorável por um mais favorável, que resultaria se agíssemos de forma diferente. Neste sentido, com cada acção, procuramos aumentar a nossa satisfação e obter um lucro psíquico. «Obter lucros é invariavelmente o objectivo de qualquer acção», como afirmou Ludwig von Mises. (Mises, 1966, p. 289).
Todavia, qualquer acção está igualmente susceptível à possibilidade de perda. De facto, toda a acção refere-se ao futuro, o qual é incerto ou, na melhor das hipóteses, apenas parcialmente conhecido. Ao deliberar sobre um curso de acção, todo o agente compara o valor de dois estados de coisas previstos: o estado que almeja alcançar por meio da sua acção, mas que ainda não se concretizou, e outro estado que resultaria se agisse de maneira diferente, mas que não pode existir, porque age da maneira como age. Esta circunstância confere a todas as acções um carácter de empreendimento susceptível ao risco. O actor, enquanto sujeito da acção, está susceptível a falhas e perdas. É possível que o sujeito não tenha a capacidade de efectivar o estado futuro antecipado. Ou seja, o conhecimento técnico do sujeito, o seu “know-how“, pode ser deficiente ou ser temporariamente “superado” devido a algumas contingências externas imprevistas. Ainda que se tenha alcançado o estado físico desejado, é possível que este seja considerado um fracasso e que ocorra uma perda, caso esse estado proporcione menos satisfação do que aquela que poderia ter sido obtida se outra opção tivesse sido seleccionada (um curso de acção alternativo rejeitado anteriormente). Em suma, o conhecimento especulativo do actor — o seu conhecimento da mudança temporal e da flutuação de valores e avaliações — pode ser deficiente.
Uma vez que todas as acções empreendedoras visam o sucesso e o lucro, não se verifica qualquer problema com o empreendedorismo e o lucro. O termo “errado” é utilizado para indicar o fracasso e a perda. Por conseguinte, todas as nossas acções são orientadas para a sua elisão.
A questão da justiça, ou seja, se uma acção específica e o lucro ou prejuízo resultante dela são eticamente correctos ou incorrectos, surge apenas em relação a conflitos.
Toda a acção requer meios físicos específicos: um corpo, espaço, objetos externos. Sempre que dois actores tentam usar os mesmos meios físicos para atingir objectivos diferentes, surge um conflito entre ambos. O conflito surge invariavelmente da escassez de meios físicos. Dois actores não podem, ao mesmo tempo, utilizar os mesmos meios físicos — os mesmos corpos, espaços e objectos — para fins alternativos. Se tentarem fazê-lo, entrarão em conflito. Portanto, para evitar o conflito ou resolvê-lo caso ocorra, é necessário um princípio e um critério de justiça passíveis de acção. Ou seja, um princípio que regule o uso e o controlo (propriedade) justos ou “adequados” versus injustos ou “inadequados” dos meios físicos escassos.
Tudo o que é necessário para evitar conflitos é claro: todos os bens devem estar em propriedade privada, ou seja, controlados exclusivamente por um indivíduo específico (ou parceria ou associação individual), e é essencial que se consiga identificar quais os bens que pertencem a quem e quais não pertencem. Os planos e objectivos de vários actores-empresários com fins lucrativos podem ser tão diferentes quanto possível, mas não surgirá qualquer conflito, desde que as suas acções envolvam única e exclusivamente o uso da sua propriedade privada.
A questão é: como podemos alcançar esta realidade, a privatização total e inequívoca de todos os bens, em termos práticos? Como podem as coisas físicas tornar-se propriedade privada, em primeiro lugar, e como podem os conflitos ser evitados desde o início da humanidade?
A solução única — praxeológica — para este problema existe, e é essencialmente conhecida pela humanidade desde os seus primórdios — mesmo que tenha sido elaborada e reconstruída logicamente de forma lenta e gradual. Para evitar conflitos desde o princípio, é necessário que a propriedade privada seja estabelecida através de actos de apropriação original. A propriedade deve ser estabelecida por meio de actos (em vez de meras palavras ou declarações), porque somente por meio de acções, que ocorrem no tempo e no espaço, é possível estabelecer uma ligação objectiva — intersubjectivamente verificável — entre uma pessoa específica e uma coisa específica. E somente o primeiro a se apropriar de uma coisa anteriormente não apropriada pode adquirir essa coisa como sua propriedade sem conflito. Pois, por definição, como primeiro proprietário, ele não pode ter entrado em conflito com ninguém na apropriação do bem em questão, uma vez que todos os outros apareceram em cena apenas mais tarde.
Isso implica, de forma significativa, que, embora cada pessoa seja a proprietária exclusiva do seu próprio corpo físico como seu principal meio de acção, nenhuma pessoa pode ser proprietária do corpo de outra pessoa. Pois só podemos usar o corpo de outra pessoa indirectamente, ou seja, usando primeiro o nosso próprio corpo, que nos pertence e controlamos directamente. Assim, a apropriação directa precede temporal e logicamente a apropriação indirecta; e, consequentemente, qualquer uso não consensual do corpo de outra pessoa é uma apropriação indevida e injusta de algo já apropriado directamente por outra pessoa.
Toda a propriedade justa, então, remonta directa ou indirectamente, através de uma cadeia de transferências de títulos de propriedade mutuamente benéficas — e, portanto, igualmente isentas de conflitos —, aos apropriadores originais e aos actos de apropriação original. Mutatis mutandis, todas as reivindicações e utilizações de coisas por uma pessoa que não as apropriou, nem produziu, nem as adquiriu através de uma troca isenta de conflitos com algum proprietário anterior, são injustas.
E, por implicação: todos os lucros obtidos ou perdas sofridas por um agente-empresário com meios justamente adquiridos são lucros (ou perdas) justos; e todos os lucros e perdas que lhe advêm da utilização de meios injustamente adquiridos são injustos.
II.
Esta análise aplica-se também, na íntegra, ao caso do empresário na sua definição mais restrita, no sentido de empresário capitalista.
O empresário capitalista age com um objectivo específico em mente: obter lucro monetário. Ele poupa ou toma emprestado dinheiro poupado, contrata mão de obra e compra ou aluga matérias-primas, bens de capital e terrenos. Em seguida, procede à fabricação do seu produto ou serviço, seja ele qual for, e espera vendê-lo para obter lucro financeiro. Para o capitalista, “o lucro aparece como um excedente de dinheiro recebido sobre o dinheiro gasto e a perda como um excedente de dinheiro gasto sobre o dinheiro recebido. O lucro e a perda podem ser expressos em quantias definitivas de dinheiro.” (Mises 1966, p. 289)
Como toda acção, um empreendimento capitalista é arriscado. O custo de produção — o dinheiro gasto — não determina a receita recebida. Na verdade, se o custo de produção determinasse o preço e a receita, nenhum capitalista jamais fracassaria. Em vez disso, são os preços e as receitas previstos que determinam os custos de produção que o capitalista pode arcar.
No entanto, o capitalista não sabe quais serão os preços futuros ou qual a quantidade do seu produto que será comprada a esses preços. Isso depende exclusivamente dos consumidores do seu produto, e o capitalista não tem controlo sobre eles. O capitalista deve especular qual será a procura futura. Se estiver correcto e os preços futuros esperados corresponderem aos preços de mercado fixados posteriormente, ele terá lucro. Por outro lado, embora nenhum capitalista tenha como objectivo ter prejuízo — porque prejuízo implica que ele deve, em última instância, desistir de sua função como capitalista e tornar-se um empregado contratado de outro capitalista ou um produtor-consumidor autossuficiente —, todo capitalista pode errar em sua especulação e os preços realmente realizados podem ficar abaixo de suas expectativas e dos custos de produção assumidos, caso em que ele não obtém lucro, mas incorre em prejuízo.
Embora seja possível determinar exactamente quanto dinheiro um capitalista ganhou ou perdeu ao longo do tempo, o seu lucro ou prejuízo monetário não diz muito, se é que diz alguma coisa, sobre o estado de felicidade do capitalista, ou seja, sobre o seu lucro ou prejuízo psicoemocional. Para o capitalista, o dinheiro raramente é o objectivo final (talvez seja para o Tio Patinhas, e apenas sob um padrão-ouro). Em praticamente todos os casos, o dinheiro é um meio para acções futuras, motivadas por objectivos ainda mais distantes e superiores. O capitalista pode querer utilizar o dinheiro para continuar ou expandir o seu papel como capitalista que visa o lucro. Pode utilizá-lo como dinheiro para empregos futuros ainda não determinados. Pode querer gastá-lo em produtos de consumo pessoal. Ou pode desejar utilizá-lo para causas filantrópicas ou de caridade, etc.
O que se pode afirmar inequivocamente sobre o lucro ou prejuízo de um capitalista é que o mesmo é a expressão quantitativa da dimensão da sua contribuição para o bem-estar dos seus semelhantes, ou seja, dos compradores e consumidores do seu produto, que entregaram o seu dinheiro em troca do produto dele (pelos compradores) mais valorizado. O lucro do capitalista indica que ele transformou com sucesso meios de acção socialmente menos valorizados e apreciados em meios socialmente mais valorizados e apreciados, aumentando e aprimorando assim o bem-estar social. Mutatis mutandis, o prejuízo do capitalista indica que ele utilizou alguns insumos mais valiosos para a produção de um produto menos valioso, desperdiçando assim meios físicos escassos e empobrecendo a sociedade.
Os lucros financeiros não são bons apenas para o capitalista, mas também para os seus semelhantes. Quanto maior for o lucro de um capitalista, maior terá sido a sua contribuição para o bem-estar social. Da mesma forma, as perdas financeiras não são más apenas para o capitalista, mas também para os seus semelhantes, cujo bem-estar foi prejudicado pelo seu erro.
A questão da justiça: do que é eticamente «certo» ou «errado» nas acções de um capitalista-empresário, surge, como em todas as acções, apenas em relação a conflitos, ou seja, a reivindicações rivais de propriedade e disputas sobre meios físicos específicos de acção. E a resposta para o capitalista aqui é a mesma que para todos, em qualquer uma de suas acções.
As acções e lucros do capitalista são justos se ele se apropriou ou produziu originalmente os seus factores de produção ou os adquiriu — comprando-os ou alugando-os — numa troca mutuamente benéfica com um anterior proprietário, se todos os seus empregados são contratados livremente em termos mutuamente acordados e se ele não causa danos físicos à propriedade de terceiros no processo de produção. Caso contrário, se alguns ou todos os factores de produção do capitalista não são apropriados ou produzidos por este, nem comprados ou alugados por este a um proprietário anterior (tendo, em vez disso, sido obtidos através da expropriação da propriedade anterior de outra pessoa), se este emprega mão de obra não consensual, «forçada», na sua produção, ou se causa danos físicos à propriedade de outrem durante a produção, as suas acções e os lucros daí resultantes são injustos.
Nesse caso, a pessoa injustamente prejudicada, o escravo ou qualquer pessoa na posse de provas do seu título anterior não renunciado sobre alguns ou todos os meios de produção do capitalista, tem uma reivindicação justa contra ele e pode insistir na restituição — exactamente como o assunto seria julgado e tratado fora do mundo dos negócios, em quaisquer assuntos civis.
III.
As complicações neste panorama ético fundamentalmente claro surgem apenas da presença de um Estado.
O Estado é convencionalmente definido como uma agência que exerce um monopólio territorial da tomada de decisão final em todos os casos de conflito, incluindo conflitos que envolvem o próprio Estado e os seus agentes. Ou seja, o Estado pode legislar, pode unilateralmente criar e revogar leis; e, por consequência, o Estado tem o privilégio exclusivo de tributar, ou seja, de determinar unilateralmente o preço que os seus súbditos devem pagar para que ele exerça a tarefa de tomada de decisão final.
Logicamente, a instituição de um Estado tem uma dupla implicação. Primeiro, com a existência de um Estado, toda a propriedade privada torna-se essencialmente propriedade fiduciária, ou seja, propriedade concedida pelo Estado e, da mesma forma, também propriedade que pode ser retirada por ele através de legislação ou tributação. Em última análise, toda a propriedade privada torna-se propriedade do Estado. Segundo, nenhuma das terras e propriedades “próprias” do Estado — erroneamente chamadas de propriedade pública — e nenhuma de suas receitas monetárias derivam de apropriação original, produção ou troca voluntária. Em vez disso, toda a propriedade e receita do Estado é resultado de expropriações anteriores dos proprietários privados.
O Estado, então, ao contrário de suas próprias declarações egoístas, não é o criador ou o garante da propriedade privada. Em vez disso, é o conquistador da propriedade privada. O Estado também não é o criador ou o garante da justiça. Pelo contrário, é o destruidor da justiça e a personificação da injustiça.
Como pode um capitalista-empresário (ou qualquer pessoa, aliás) agir com justiça num mundo fundamentalmente injusto e estatista, ou seja, confrontado e cercado por uma instituição eticamente indefensável — o Estado — cujos agentes vivem e se sustentam não da produção e da troca, mas da expropriação: da apropriação, redistribuição e regulamentação da propriedade privada dos capitalistas e de outros?
Uma vez que a propriedade privada é justa, toda acção em defesa da propriedade privada é igualmente justa — desde que, em sua defesa, o defensor não infrinja os direitos de propriedade privada de terceiros. O capitalista tem o direito ético de usar todos os meios à sua disposição para se defender contra qualquer ataque e expropriação de sua propriedade pelo Estado, exactamente como tem o direito de fazer contra qualquer criminoso comum. Por outro lado, e mais uma vez exactamente como no caso de qualquer criminoso comum, as acções defensivas do capitalista são injustas se envolverem um ataque à propriedade de terceiros, ou seja, assim que o capitalista usa os seus meios para desempenhar um papel participativo nas expropriações do Estado.
Mais especificamente: para o capitalista (ou qualquer pessoa) em defesa e em nome da sua propriedade, pode não ser prudente ou mesmo perigoso fazê-lo, mas é certamente justo que ele evite ou contorne todas e quaisquer restrições impostas à sua propriedade pelo Estado, da melhor forma que puder. Assim, é justo que o capitalista engane e minta aos agentes do Estado sobre as suas propriedades e rendimentos. É justo que ele evite o pagamento de impostos sobre a sua propriedade e rendimentos e ignore ou contorne todas as restrições legislativas ou regulamentares impostas ao uso que pode fazer dos seus factores de produção (terra, trabalho e capital). Da mesma forma, um capitalista também age com justiça se suborna ou de outra forma pressiona agentes do Estado para ajudá-lo a ignorar, remover ou evadir os impostos e regulamentações que lhe são impostos. Ele age com justiça e, acima disso, torna-se um promotor da justiça se usa os seus meios para pressionar ou subornar agentes do Estado para reduzir os impostos e as regulamentações sobre a propriedade em geral, e não apenas para si mesmo. E ele age com justiça e torna-se, de facto, um defensor da justiça, se fizer pressão activamente para proibir, como injustas, toda e qualquer expropriação e, portanto, todos os impostos sobre a propriedade e o rendimento e todas as restrições legislativas ao uso da propriedade (além da exigência de não causar danos físicos à propriedade alheia durante a produção).
Além disso, é justo que o capitalista adquira bens do Estado pelo menor preço possível — desde que esses bens não possam ser atribuídos à expropriação de terceiros específicos que ainda detenham o direito de propriedade sobre os mesmos. E da mesma forma é justo que o capitalista venda os seus produtos ao Estado pelo preço mais alto possível — desde que esse produto não possa ser directamente e causalmente ligado a um acto futuro de agressão estatal contra algum terceiro em particular (como pode ser o caso de certas vendas de armas).
Por outro lado, além de qualquer violação das duas restrições acima mencionadas, um capitalista age injustamente e torna-se um promotor da injustiça, se e na medida em que emprega os seus meios com o objectivo de manter ou aumentar ainda mais qualquer nível actual de confiscação ou expropriação legislativa da propriedade ou renda alheia pelo Estado.
Assim, por exemplo, a compra de títulos do governo estatal e o lucro monetário dele derivado são injustos, porque tal compra representa um esforço de lobby em prol da continuidade do Estado e da injustiça em curso, uma vez que os pagamentos de juros e o reembolso final do título exigem impostos futuros. Da mesma forma, e mais importante ainda, quaisquer meios gastos por um capitalista em esforços de lobby para manter ou aumentar o nível actual de impostos — e, portanto, da renda e dos gastos do Estado — ou de restrições regulatórias à propriedade, são injustos, e quaisquer lucros derivados de tais esforços são corruptos.
Confrontado com uma instituição injusta, a tentação de um capitalista agir também de forma injusta é sistematicamente aumentada. Se ele se torna cúmplice nos negócios do Estado de tributar, redistribuir e legislar, novas oportunidades de lucro se abrem. A corrupção torna-se atraente, porque pode oferecer grandes recompensas financeiras.
Ao investir dinheiro e outros recursos em partidos políticos, políticos ou outros agentes do Estado, um capitalista pode pressionar o Estado a subsidiar a sua empresa em dificuldades, ou a resgatá-la da insolvência ou falência — e assim enriquecer ou salvar-se à custa de outros. Através de actividades e despesas de lobby, um capitalista pode obter um privilégio legal ou monopólio sobre a produção, a venda ou a compra de determinados produtos ou serviços — e assim obter lucros monopolistas às custas de outros capitalistas que buscam lucro financeiro. Ou pode fazer com que o Estado aprove legislação que aumente os custos de produção dos seus concorrentes em relação aos seus — e assim lhe conceda uma vantagem competitiva às custas dos outros.
No entanto, por mais tentadoras que sejam, todas essas actividades de lobby e os lucros resultantes são injustos. Todas elas envolvem que um capitalista pague agentes do Estado pela expropriação de terceiros, na expectativa de obter lucros pessoais mais elevados. O capitalista não emprega os seus meios de produção exclusivamente para a produção de bens, a serem vendidos a consumidores que pagam voluntariamente. Em vez disso, o capitalista emprega uma parte dos seus meios para a produção de males: a expropriação involuntária de outros. E, consequentemente, o lucro obtido com o seu empreendimento, seja ele qual for, deixa de ser uma medida correcta da dimensão da sua contribuição para o bem-estar social. Os seus lucros são corruptos e moralmente manchados. Alguns terceiros teriam uma reivindicação justa contra o seu empreendimento e o seu lucro — uma reivindicação que pode não ser executável contra o Estado, mas que seria, ainda assim, uma reivindicação justa.
Ensaio produzido a partir da palestra “A Ética do Empreendedorismo e do Lucro”, proferida pelo Prof. Hoppe na Universidade de Reading, Inglaterra, em Junho de 2014.
Incluído no livro “International Handbooks in Business Ethics“, publicação da Universidade de Navarra.
Versão em inglês disponível no Mises Institute.