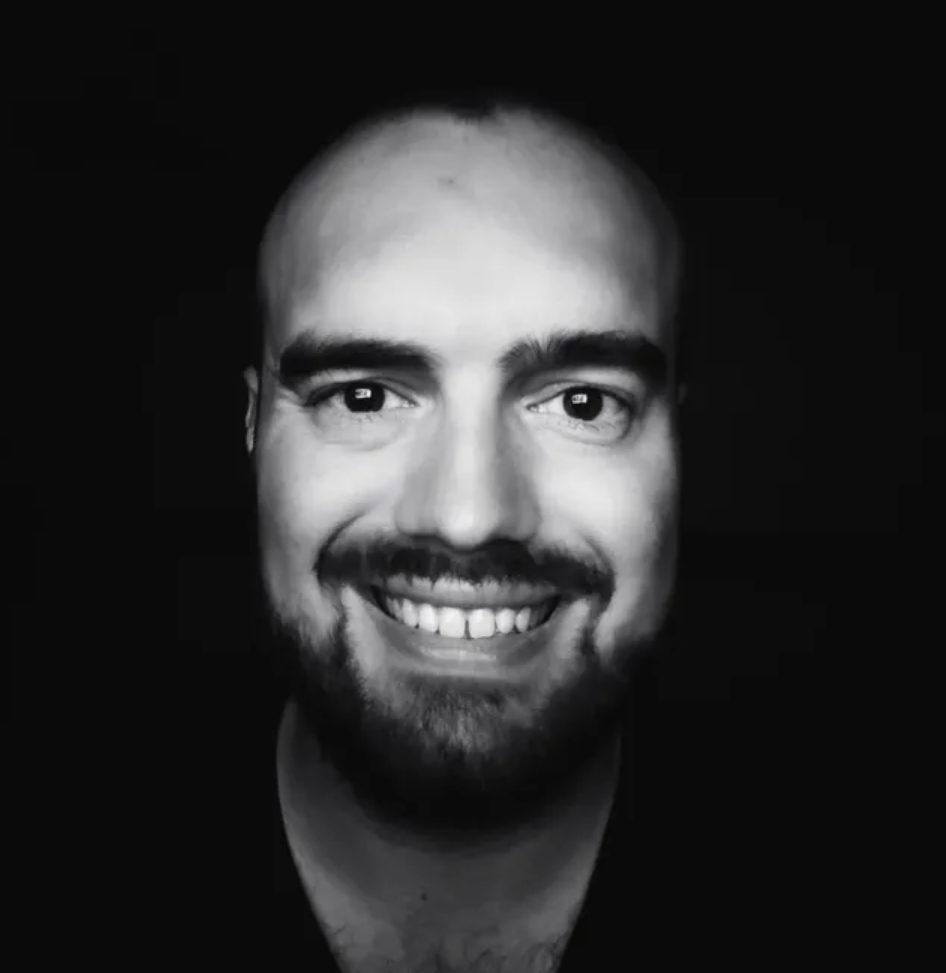Uma economia de guerra é caracterizada, acima de tudo, por uma preferência temporal extremamente elevada (ou seja, uma concentração no presente). A condução da guerra exige que recursos escassos – previamente alocados para a produção de bens de capital ou de consumo – sejam realocados para a mobilização e prontidão operacional das forças de combate da nação. Como disse Mises, “A guerra só pode ser travada com bens actuais”.
A economia, portanto, rearranja e “encurta” a estrutura geral do capital para favorecer a produção imediata de bens acabados. O capital é então consumido com grande pressa para satisfazer o esforço de guerra. O trabalho, os recursos e os bens de capital são direccionados para a produção de bens de consumo, em vez das fases mais distantes da estrutura do capital, que, como já foi dito, estão orientadas para o futuro e para o aperfeiçoamento da estrutura de produção. Toda a estrutura capitalista é virada do avesso. Joseph Schumpeter explicou:
A nossa pobreza só nos será revelada em toda a sua extensão depois da guerra. Só nessa altura é que as máquinas gastas, os edifícios degradados, as terras abandonadas, o gado dizimado, as florestas devastadas, testemunharão toda a profundidade dos efeitos da guerra.
A transição para uma economia de guerra orientada para o presente conduz àquilo a que Salerno chama uma economia regressiva, que já não constrói para a prosperidade futura mas para a destruição presente do capital. A guerra é sinónimo de oportunidades perdidas, de tempo desperdiçado e do abandono da utilização de recursos em empreendimentos alternativos genuinamente produtivos. Sendo que o Estado tem acesso privilegiado aos stocks de recursos, também destrói todos os incentivos a que os indivíduos e as empresas privadas renovem esses stocks.
A desacumulação geral do capital é, portanto, a conclusão lógica de qualquer economia de guerra. É impossível não pensar em Frédéric Bastiat – o que se vê e o que não se vê – e em todas as oportunidades e riquezas perdidas para sempre. É também impossível não apontar a enorme hipocrisia da economia keynesiana, que acredita que a guerra e a destruição material podem gerar riqueza se conduzirem à produção e ao pleno emprego.
Financiamento da Guerra Através dos Impostos
Do ponto de vista da teoria económica, é perfeitamente possível que um Estado obtenha os fundos necessários para atingir os seus objectivos de guerra aumentando os impostos e contraindo empréstimos junto da sua população. No papel, não há necessidade de inflação monetária.
A tributação – que equivale a uma apreensão do rendimento disponível de uma população – assume duas formas: uma redução do consumo dos indivíduos ou uma redução do rendimento poupado. Estas escolhas reflectem uma mudança na preferência temporal dos consumidores: enquanto os primeiros mantêm uma preferência temporal baixa, os segundos adoptam uma preferência mais elevada. Em tempo de guerra, a segunda opção tende a ser a norma, uma vez que os indivíduos estão naturalmente relutantes em sacrificar o seu nível de vida habitual para preservar a sua capacidade de poupança. Este facto conduz a taxas de juro mais elevadas na economia, uma vez que a poupança disponível sob a forma de depósitos a prazo é reduzida.
É igualmente importante notar que, pelo facto de a tributação reduzir o rendimento disponível dos indivíduos, também limita a sua capacidade de gastar ou poupar como entenderem. Este facto, por sua vez, limita a capacidade do mercado para afectar recursos de forma eficiente com base na procura dos consumidores. Os impostos provocam uma má utilização do capital porque o governo tem poucos incentivos para afectar os recursos de forma eficiente e porque as prioridades do governo não coincidem necessariamente com as dos indivíduos. Esta má afectação do capital prejudica a estrutura produtiva da sociedade no seu conjunto, ainda mais em tempos de guerra, quando o governo decide aumentar os impostos para reafectar o capital com a destruição como objectivo.
Salerno menciona também uma alternativa à tributação para financiar o esforço de guerra: o confisco de bens não reprodutíveis, para além do dinheiro. Estamos a pensar em animais, veículos, alimentos, vestuário, etc., que o Estado pode confiscar à sua população. No fundo, esta técnica é muito semelhante à tributação, mas muito menos eficaz. Prova disso é a forma como foi utilizada pelos bolcheviques durante a guerra civil russa (1917-1923), cujos resultados foram, sem surpresa, absolutamente desastrosos.
Por fim, em tempo de guerra, o carácter opressivo da fiscalidade é demasiado visível para uma população que pode constatar em primeira mão os efeitos nefastos da guerra no conjunto da sociedade. Uma guerra demasiado visível torna-se rapidamente impopular, esvaziando o entusiasmo dos civis e dos trabalhadores. Isto pode levar à agitação e a um derrotismo perigoso para o Estado. O Estado não pode permitir que isso aconteça, pois está empenhado numa luta até à morte contra o seu rival, como manda a guerra total. É necessário encontrar outras técnicas de financiamento.
Financiamento da Guerra Através da Inflação Monetária
Com a inflação, o governo decide “monetizar” a sua dívida, vendendo obrigações ao banco central. Como não tem dinheiro próprio, o banco central simplesmente imprime dinheiro novo para comprar esses títulos. Pode fazê-lo no mercado primário, com o governo, ou no mercado secundário, directamente com os bancos comerciais. Desta forma, os banqueiros centrais injectam dinheiro criado ex nihilo na economia e, ao mesmo tempo, tornam-se os principais financiadores da guerra total.
Como já foi referido a propósito das teorias do capital e do cálculo monetário, caras aos economistas austríacos, o dinheiro é o bem mais transacionável de uma economia. Enquanto base do cálculo monetário, é a “estrela-guia da acção”, a bússola que orienta as trocas efectuadas pelos empresários e outros indivíduos e que permite alongar a estrutura capitalista da sociedade no seu conjunto. Ao optar pela inflação monetária, o Estado procura, acima de tudo, esconder da população os sinais demasiado visíveis da guerra. Por outras palavras, esconder o aumento das taxas de juro, as falências e o custo real para a economia de um aumento massivo da preferência temporal.
A inflação monetária distorce completamente a natureza do dinheiro e falsifica o cálculo económico. O dinheiro é transformado em arma pelo Estado, que o canaliza directamente para as indústrias militares em vez de o canalizar para o resto da economia. O desequilíbrio resultante desta injecção monetária espalha-se gradualmente por toda a sociedade sob a forma de um aumento desigual dos preços. Como Mises explicou correctamente, os primeiros beneficiários do dinheiro recém-impresso ainda podem comprar bens de consumo aos preços de mercado anteriores (ou seja, antes de terem tido tempo de subir devido à inflação).
Esta situação de desordem económica não é necessariamente fácil de identificar em tempo de guerra, devido ao falso boom económico criado pela injecção maciça de liquidez na economia. Embora a inflação possa estimular temporariamente a actividade económica, na realidade conduz a um consumo acelerado de capital. Com o tempo, destrói a própria capacidade de criar riqueza, uma vez que o valor real das poupanças e dos investimentos deixa de corresponder à realidade económica do mercado. A inflação transforma o dinheiro num “véu”, um “dispositivo para esconder custos”, como Salerno tão bem o descreve.
A Economia de Guerra: O Caminho para o Fascismo Económico
A guerra implica, portanto, uma intervenção acentuada do Estado na economia, justificada pelas exigências da guerra. Em muitos casos, porém, essa intervenção continua depois da guerra. A inflação monetária utilizada para financiar as guerras pode assim conduzir àquilo a que Salerno chama “fascismo económico” (ou seja, o controlo total da economia pelo Estado).
Em tempos de guerra, o Estado arrogou para si o poder de tomar todas as decisões cruciais, não só em matéria monetária, mas também em matéria de fiscalidade e de produção. A economia de guerra global acabou por se tornar uma economia totalmente planeada, uma “economia fascista” na sua definição original: já não eram as empresas privadas que decidiam o que produzir, mas o Estado que decidia por elas. Esta transformação em economia fascista anda muitas vezes de mãos dadas com o estabelecimento de um Estado todo-poderoso, frequentemente sob a forma de um Estado policial, necessário para sugar, confiscar e redireccionar para o esforço de guerra todo o capital e rendimento disponível de uma sociedade.
Não faltam exemplos históricos: um dos mais famosos é o infame Plano Hindenburg do Império Alemão da Primeira Guerra Mundial. O plano exigia uma mobilização económica total para optimizar os recursos limitados da Alemanha. O aumento da produção militar foi logicamente conseguido à custa do consumo civil e através da introdução de racionamento para a população. O autor Günter Reiman descreve este sistema como uma “economia vampira”, que, numa guerra permanente e total, consome inevitavelmente todo o capital de uma sociedade.
E é esse o objectivo deste rico capítulo de “Money: Sound and Unsound Money“: uma economia de guerra, orientada para a guerra total, com apenas um resultado em vista – a aniquilação total do inimigo – não tem outra hipótese senão vampirizar a sua própria economia e destruir o capital dos seus próprios cidadãos.
Para o conseguir, as autoridades centrais podem recorrer à moeda fiduciária, o instrumento perfeito para esconder do indivíduo o verdadeiro custo da guerra, ao mesmo tempo que drenam todo o capital da nação para a condenar à destruição. Em suma, a guerra é sempre um jogo de soma negativa: todos perdem, incluindo a nação vencedora. Esta perde não só a sua liberdade, mas também a sua estrutura capitalista, única garantia da sua prosperidade futura.
Artigo publicado originalmente no Mises Institute.