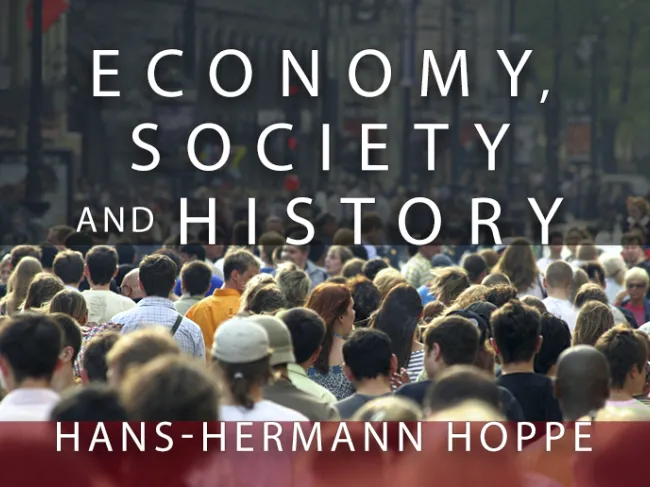O resultado de todas as minhas palestras é que a instituição do Estado representa, de alguma forma, um erro e um desvio da causa normal e natural da civilização. E todos os erros são dispendiosos e têm de ser pagos. Isto é mais evidente no caso dos erros relativos às leis da natureza. Se uma pessoa erra em relação às leis da natureza, essa pessoa não será capaz de atingir os seus próprios objectivos. No entanto, como o fracasso tem de ser suportado por cada indivíduo, prevalece no domínio das ciências naturais um desejo universal de aprender e de eliminar e corrigir os seus erros. Por outro lado, os erros morais também são dispendiosos, mas, ao contrário do que acontece com as ciências naturais, o custo dos erros morais não pode ser pago por cada uma das pessoas que comete esse erro.
Por exemplo, tomemos o erro de que falámos aqui em pormenor, tomemos o erro de acreditar que uma agência, e apenas uma agência, o Estado, tem o direito de tributar e de tomar decisões em última instância. Ou seja, que deve haver leis diferentes e desiguais para os senhores e para os servos, para os que cobram impostos e para os que são cobrados, para os legisladores e para os legislados. Uma sociedade que acredita neste erro pode, evidentemente, existir e durar, como todos sabemos, mas este erro também tem de ser pago. Mas o que é interessante é que nem todos os que acreditam neste erro têm de o pagar igualmente. Pelo contrário, algumas pessoas terão de pagar o erro, enquanto outras, talvez os agentes do Estado, beneficiam efectivamente do mesmo erro. Por isso, neste caso, seria errado supor que existe um desejo universal de aprender e de corrigir o seu erro. Muito pelo contrário, neste caso, ter-se-á de assumir que algumas pessoas, em vez de aprenderem e promoverem a verdade, têm um motivo constante para mentir, isto é, para manter e promover falsidades, mesmo que elas próprias as reconheçam como tal.
Permitam-me que explique isto com um pouco mais de pormenor e que repita algumas das ideias básicas que tentei transmitir durante estas palestras. Quando se aceita o princípio do governo, nomeadamente que tem de haver um monopólio judicial e o poder de tributar, quando se aceita este princípio incorrectamente como um princípio justo, então qualquer ideia ou noção de restringir ou limitar o poder do governo e salvaguardar a liberdade individual e a propriedade torna-se ilusória. Pelo contrário, sob auspícios monopolistas, o preço da justiça e da protecção aumentará continuamente, e a qualidade da justiça e da protecção diminuirá continuamente. Uma agência de protecção financiada pelos impostos é uma contradição em termos. Ou seja, é um protector expropriador da propriedade. E uma tal instituição conduzirá inevitavelmente a mais impostos e a cada vez menos protecção, mesmo que, como exigem alguns liberais clássicos, um governo limite as suas actividades exclusivamente à protecção dos direitos de propriedade privada preexistentes. Então, imediatamente surgiria a outra questão:
“Quanta segurança devemos produzir e quantos recursos devemos gastar neste bem específico de protecção?”
E motivado, como toda a gente, pelo interesse próprio, mas equipado com o poder único de tributar, a resposta de um agente governamental será invariavelmente a mesma. Ou seja, maximizar as despesas com protecção (e, como pode imaginar, quase toda a riqueza de uma nação pode, em princípio, ser gasta em protecção. Basta equipar toda a gente com um guarda-costas pessoal e um tanque com um lança-chamas em cima) e, ao mesmo tempo, minimizar o que é suposto fazerem, ou seja, a produção de protecção. Quanto mais dinheiro se puder gastar e quanto menos se tiver de trabalhar por esse dinheiro, melhor.
Agora, além disso, um monopólio judicial conduzirá inevitavelmente a uma deterioração constante da qualidade da justiça e da protecção. Se ninguém pode recorrer à justiça, excepto o governo, a justiça será invariavelmente pervertida a favor do governo, independentemente das constituições e dos tribunais supremos. Afinal de contas, as constituições e os tribunais supremos são constituições estatais e agências estatais, e quaisquer limitações às actividades estatais que estas instituições possam encontrar ou conter são invariavelmente decididas por agentes da própria instituição que está a ser considerada. É facilmente previsível que a definição de propriedade e a definição de protecção sejam continuamente alteradas e que o âmbito da jurisdição seja alargado em benefício do governo, até que, em última análise, a noção de direitos humanos universais e imutáveis e, em particular, de direitos de propriedade, desapareça e seja substituída pela noção de lei como legislação criada pelo governo e de direitos como concessões dadas pelo governo às pessoas.
Agora, os resultados estão diante dos nossos olhos e toda a gente os pode ver. A carga fiscal imposta aos proprietários e aos produtores tem aumentado continuamente, fazendo com que até a carga económica dos escravos e dos servos pareça moderada em comparação. A dívida pública e, por conseguinte, as obrigações fiscais futuras, subiram a valores estonteantes. Todos os pormenores da vida privada, da propriedade, do comércio e dos contratos são regulados por montanhas cada vez maiores de leis em papel. No entanto, a única tarefa que o governo deveria ter assumido, a de proteger a vida e a propriedade, não é muito bem desempenhada. Pelo contrário, quanto mais aumentam as despesas com o bem-estar social e a segurança nacional, mais os nossos direitos de propriedade privada são corroídos, mais a nossa propriedade é expropriada, confiscada, destruída e depreciada. Quanto mais leis de papel foram produzidas, mais incerteza jurídica e risco moral foram criados, e mais a ilegalidade substituiu a lei e a ordem. Em vez de nos proteger da criminalidade interna e da agressão estrangeira, o nosso governo, que está equipado com enormes reservas de armas de destruição maciça, agride cada vez mais novos Hitlers e suspeitos de simpatizantes hitlerianos, em qualquer lugar e em qualquer parte fora do seu próprio território. Em suma, enquanto nos tornámos cada vez mais indefesos, empobrecidos, ameaçados e inseguros, os nossos governantes tornaram-se cada vez mais corruptos, arrogantes e perigosamente armados.
Ora, o que é que podemos fazer em relação a tudo isto? Permitam-me que comece por chamar a atenção para algo que já referi anteriormente, ou seja, temos de reconhecer que os Estados, por mais poderosos e invencíveis que possam parecer, devem, em última análise, a sua existência às ideias e, uma vez que as ideias podem, em princípio, mudar instantaneamente, os Estados também podem ser derrubados e desmoronar-se praticamente de um dia para o outro. Os representantes do Estado são sempre e em todo o lado apenas uma pequena minoria da população sobre a qual governam. A razão para isso, como já expliquei, é tão simples quanto fundamental. Cem parasitas podem viver confortavelmente se sugarem o sangue de milhares de hospedeiros produtivos, mas milhares de parasitas não podem viver confortavelmente com uma população de apenas algumas centenas de hospedeiros. No entanto, se os agentes do governo são apenas uma pequena minoria da população, como é que eles podem impor a sua vontade sobre essa população e sair impunes? A resposta dada por Rothbard, de La Boétie, Hume, e Mises é apenas em virtude da cooperação voluntária da maioria da população sujeita ao estado.
No entanto, como é que o Estado pode assegurar essa cooperação? E a resposta é: apenas porque e na medida em que a maioria da população acredita na legitimidade do governo do Estado, na necessidade da instituição do Estado. Isto não quer dizer que a maioria da população tenha de concordar com todas as medidas do Estado. De facto, pode muito bem acreditar que muitas políticas estatais são erros ou mesmo desprezíveis. No entanto, a maioria da população deve acreditar na justiça da instituição do Estado enquanto tal e, portanto, que mesmo que um determinado governo erre ou cometa determinados erros, esses erros são meros acidentes, que devem ser aceites e tolerados tendo em vista um bem maior proporcionado pela instituição do governo. Ou seja, as pessoas acreditam na teoria do acidente do erro governamental em vez de verem que há uma razão sistemática por detrás de tudo isto. Mas como é que a maioria da população pode ser levada a acreditar nesta teoria do acidente? E a resposta é: com a ajuda dos intelectuais. Antigamente, isso significava tentar moldar uma aliança entre o Estado e a Igreja. Nos tempos modernos, muito mais eficazmente, isto significa através da nacionalização ou da socialização da educação, através de escolas e universidades geridas e subsidiadas pelo Estado. A procura no mercado de serviços intelectuais, em particular na área das humanidades e das ciências sociais, não é propriamente elevada e também não é propriamente estável e segura. Os intelectuais estariam à mercê dos valores e das escolhas das massas e estas, em geral, não se interessam pelas preocupações intelectuais e filosóficas. O Estado, por outro lado, como observou Rothbard, acomoda os seus egos tipicamente sobre-inflacionados e está disposto a oferecer aos intelectuais um lugar confortável, seguro e permanente no seu aparelho, um rendimento seguro e a panóplia do prestígio. E, de facto, o Estado democrático moderno, em particular, criou um enorme excesso de oferta de intelectuais.
Esta acomodação não garante um pensamento estatista correcto, como é óbvio. Além disso, por muito bem pagos que os intelectuais sejam, continuarão a queixar-se de que o seu trabalho “tão importante” é pouco apreciado pelos poderes instituídos. Mas ajuda certamente a chegar às conclusões estatistas correctas se nos apercebermos de que, sem o Estado, ou seja, sem as instituições da tributação e da legislação, poderíamos estar completamente desempregados e ter de nos dedicar à mecânica da bomba de gasolina, em vez de nos preocuparmos com problemas tão prementes como a alienação, a equidade e a exploração, a desconstrução do género e dos papéis sexuais ou a cultura dos esquimós, dos Hopis e dos Zulus. E mesmo que nos sintamos subestimados por este ou aquele governo em exercício, os intelectuais continuam a perceber que a ajuda só pode vir de outro governo, e certamente não de um ataque intelectual à legitimidade da própria instituição do governo enquanto tal. Assim, não é de surpreender que, em termos empíricos, a esmagadora maioria dos intelectuais contemporâneos seja de extrema-esquerda e que mesmo a maioria dos intelectuais conservadores ou defensores do mercado livre, como, por exemplo, Milton Friedman ou Friedrich von Hayek, sejam também, fundamental e filosoficamente, estatistas.
Ora, a partir desta percepção da importância das ideias e do papel dos intelectuais como guarda-costas do Estado e do estatismo, conclui-se que o papel mais decisivo no processo de libertação, ou seja, a restauração da justiça e da moralidade, deve recair sobre os ombros daquilo a que poderíamos chamar intelectuais anti-intelectuais. No entanto, como é que esses intelectuais anti-intelectuais podem conseguir deslegitimar o Estado na opinião pública, especialmente se a esmagadora maioria dos seus colegas são estatistas e farão tudo o que estiver ao seu alcance para os isolar e desacreditar como extremistas e loucos? A primeira coisa é esta. Porque temos de contar com a oposição feroz dos nossos colegas e, para resistir a essas críticas e para as ignorar, é da maior importância fundamentar os nossos próprios argumentos, não só em economia e em argumentos utilitários, mas também em ética e em argumentos morais, porque só as convicções morais nos dão a coragem e a força necessárias na batalha ideológica. Poucas pessoas estão inspiradas e dispostas a aceitar sacrifícios se aquilo a que se opõem é um mero erro e desperdício. É possível obter mais inspiração e mais coragem quando se sabe que se está a lutar contra o mal e a mentira.
O segundo ponto que quero sublinhar é o seguinte. É igualmente importante reconhecer que não é necessário converter os colegas, ou seja, que não é necessário persuadir os intelectuais da corrente dominante. Como Thomas Kuhn demonstrou, em particular, a conversão dos colegas é um acontecimento bastante raro, mesmo nas ciências naturais. Nas ciências sociais, as conversões entre intelectuais estabelecidos de pontos de vista anteriormente defendidos são quase desconhecidas. Em vez disso, há que concentrar os esforços nos jovens ainda não comprometidos intelectualmente, cujo idealismo os torna particularmente receptivos aos argumentos morais e ao rigorismo moral. E, da mesma forma, dever-se-ia contornar, tanto quanto possível, as instituições académicas puras e chegar ao público em geral, que tem alguns preconceitos anti-intelectuais geralmente saudáveis, nos quais se pode facilmente entrar.
O terceiro ponto é – e isto faz-me voltar à importância de um ataque moral ao Estado – é essencial reconhecer que não pode haver compromisso ao nível da teoria. É certo que não se deve recusar a cooperação com pessoas cujos pontos de vista são, em última análise, errados e confusos, desde que os seus objectivos possam ser classificados clara e inequivocamente como um passo na direcção certa de uma desestatização da sociedade. Por exemplo, não queremos recusar a cooperação com pessoas que pretendem introduzir um imposto fixo sobre o rendimento de 10%. No entanto, não queremos cooperar com aqueles que pretendem combinar esta medida com um aumento do imposto sobre as vendas, a fim de alcançar a neutralidade das receitas, por exemplo. Esta cooperação não deve, em caso algum, conduzir a uma cedência de princípios. Ou a tributação é justa ou não é, e uma vez que se admite que é justa, como é que se pode então opor a qualquer aumento da mesma? E a resposta é, evidentemente, que, nesse caso, não nos resta qualquer argumento. Dito de outra forma, o compromisso, ao nível da teoria, tal como o encontramos, por exemplo, entre os moderados defensores do mercado livre, como Hayek ou Friedman, ou mesmo entre alguns dos chamados minarquistas, não é apenas filosoficamente falho, mas é também praticamente ineficaz e até contraproducente. As suas ideias podem ser, e de facto são, facilmente cooptadas e incorporadas pelos governantes do estado e pela ideologia estatista. De facto, quantas vezes ouvimos hoje em dia os estatistas, em defesa de uma agenda estatista, gritarem como “até Hayek ou Friedman dizem isto e aquilo” ou “nem mesmo Hayek ou Friedman proporiam algo assim”?
Pessoalmente, Friedman e Hayek podem não estar satisfeitos com isto, mas é inegável que o seu trabalho se presta a este objectivo e, portanto, que eles contribuíram, de facto, para o poder contínuo e inabalável do Estado. Por outras palavras, o compromisso teórico e o gradualismo apenas conduzirão à perpetuação da falsidade, dos males e das mentiras do estatismo, e apenas o purismo teórico, o radicalismo e a intransigência podem e irão conduzir, em primeiro lugar, a uma reforma e melhoria práticas graduais e, possivelmente, também à vitória final. Assim, como um intelectual anti-intelectual, no sentido Rothbardiano, nunca se pode ficar satisfeito em criticar as várias loucuras do governo. Embora se tenha de começar por criticar essas loucuras, deve-se sempre partir daí para um ataque fundamental à instituição do Estado enquanto tal, como um ultraje moral, e aos seus representantes como fraudes morais e económicas, mentirosos e impostores, ou como imperadores sem roupa. Em particular, nunca se deve hesitar em atacar o próprio coração da legitimidade do Estado e o seu alegado papel indispensável como produtor de protecção e segurança privadas. Já demonstrei o ridículo desta pretensão em termos teóricos. Como é que um organismo que pode expropriar a propriedade privada pode pretender ser um protector da propriedade privada?
Mas, não menos importante, é atacar a legitimidade do Estado em bases empíricas, ou seja, apontar e martelar sobre o assunto que, afinal de contas, os Estados, que supostamente nos protegem, são a própria instituição responsável por cerca de 170 milhões de mortes em tempo de paz só no século XX; isto é provavelmente mais do que as vítimas de crimes privados em toda a história da humanidade. E este número de vítimas de crimes privados dos quais o governo não nos protegeu teria sido ainda muito menor se os governos, em todo o lado e em todos os tempos, não tivessem empreendido esforços constantes para desarmar os seus próprios cidadãos, de modo a que os governos, por sua vez, pudessem tornar-se máquinas de matar cada vez mais eficazes. Assim, em vez de tratar os políticos com respeito, dever-se-ia aumentar significativamente a crítica que lhes dirigimos. Quase todos os políticos – com algumas excepções – são não só ladrões, mas também assassinos em massa ou, pelo menos, assistentes de assassinos em massa. E como é que se atrevem a exigir o nosso respeito e a nossa lealdade?
Mas será que uma radicalização lógica, nítida e clara, produzirá os resultados que pretendemos alcançar? Quanto a isso, tenho poucas dúvidas. De facto, só as ideias radicais e, na verdade, radicalmente simples, podem despertar as emoções das massas indolentes e deslegitimar o governo aos seus olhos. Permitam-me que cite Hayek neste sentido e, a partir daí, percebam que mesmo um tipo que é fundamentalmente confuso e errado pode ter ideias muito importantes, e que podemos aprender muito também com as pessoas que não concordam totalmente connosco.
Temos de voltar a fazer da construção de uma sociedade livre uma aventura intelectual, um acto de coragem. O que nos falta é uma utopia liberal, um programa que não pareça nem uma mera defesa das coisas como elas são nem uma espécie diluída de socialismo, mas um radicalismo verdadeiramente liberal que não poupe as susceptibilidades dos poderosos (incluindo os sindicatos), que não seja demasiado severamente prático e que não se limite ao que hoje parece politicamente possível. Precisamos de líderes intelectuais que estejam preparados para resistir às seduções do poder e da influência e que estejam dispostos a trabalhar por um ideal, por mais pequenas que sejam as perspectivas da sua realização a breve prazo. Devem ser homens que estejam dispostos a manter-se fiéis aos princípios e a lutar pela sua plena realização, por mais remota que seja. O comércio livre ou a liberdade de oportunidades são ideias que ainda podem despertar a imaginação de um grande número de pessoas, mas uma mera “razoável liberdade de comércio” ou um mero “relaxamento dos controlos” não são intelectualmente respeitáveis nem susceptíveis de inspirar qualquer entusiasmo.
A menos que consigamos fazer com que os fundamentos filosóficos de uma sociedade livre voltem a ser uma questão intelectual viva e que a sua implementação seja uma tarefa que desafie o engenho e a imaginação das nossas mentes mais vivas, as perspectivas de liberdade são de facto sombrias. Mas se conseguirmos recuperar aquela crença no poder das ideias que foi uma marca do liberalismo no seu auge, a batalha não está perdida1.
É claro que Hayek não seguiu o seu próprio conselho de nos fornecer uma teoria consistente e inspiradora. A sua utopia, tal como desenvolvida, por exemplo, na sua Constituição da Liberdade, é, em vez disso, a visão pouco inspiradora do Estado-providência sueco. Mas foi Rothbard, acima de tudo, que fez o que Hayek reconheceu como necessário para a renovação do liberalismo clássico, ou seja, ele nos deu uma utopia inspiradora, algo que é baseado na moral e é capaz de revigorar, especialmente os jovens e intelectualmente descomprometidos.
Agora, permitam-me que termine tentando também oferecer uma espécie de utopia inspiradora para objectivos intermédios, objectivos antes de chegarmos a uma sociedade totalmente desestatizada. Percebem que se seguirmos a lógica do Estado até à sua conclusão final, então o que temos de exigir é um Estado mundial, porque enquanto não houver um Estado mundial, então, de acordo com a própria ideologia estatista, haverá uma guerra perpétua entre os Estados porque eles estão, uns em relação aos outros, num estado de anarquia. A única solução definitiva seria a de um Estado mundial. É precisamente esta a visão que os nossos dirigentes tentam propagar. Claro, um Estado mundial sob o controlo dos Estados Unidos, para ser mais preciso, mas, seja como for, é preciso um Estado mundial. Em vez disso, a utopia, a utopia intermédia que eu sugeriria, inspira-se no que aprendemos com a Idade Média e com a organização peculiar da Europa que foi responsável pelo êxito único do mundo ocidental, ou seja, a estrutura quase anarquista, a estrutura altamente descentralizada da Europa. O que podemos propor como objectivo intermédio, que me parece mais inspirador do que o Estado mundial, é a visão de um mundo composto por dezenas de milhares de Mónacos e Liechtensteins e Cantões Suíços e Singapuras e Hong Kongs e San Marinos e quaisquer pequenas entidades que ainda existam actualmente. Recorde-se que, se tivermos um grande número de pequenas entidades políticas, cada uma dessas entidades terá de ser relativamente moderada e simpática para com a sua população, caso contrário, as pessoas simplesmente fugirão dela.
Em segundo lugar, cada uma destas pequenas unidades terá de se empenhar quase necessariamente numa política de comércio livre e aberto. Os Estados Unidos, como grande país, podem adoptar medidas proteccionistas porque têm um grande mercado interno. Mesmo que deixassem de ter relações comerciais com o resto do mundo, a população dos Estados Unidos sofreria um declínio significativo do seu nível de vida, mas não morreriam pessoas. Por outro lado, imaginemos o Liechtenstein, o Mónaco ou São Marinho a declarar o fim do comércio, o fim do comércio livre com o mundo exterior, ou Hong Kong, lugares como estes. Depois, evidentemente, bastaria uma semana ou duas para que toda a população desses lugares fosse dizimada. Assim, as pequenas unidades devem, para não morrerem à fome ou perderem, nomeadamente, os seus indivíduos mais produtivos num instante, adoptar políticas liberais clássicas.
Para além disso, um grande número de unidades muito pequenas teria de renunciar, necessariamente, à instituição do papel-moeda, porque não pode haver dezenas de milhares de diferentes papéis-moeda emitidos por dezenas de milhares de diferentes unidades políticas. Se o fizéssemos, estaríamos basicamente de volta a um sistema de troca directa. Quanto mais pequenas forem as unidades, maior é a pressão, de facto, para que regressemos também a um padrão monetário de mercadorias, que é totalmente independente do controlo governamental.
O que eu recomendaria, em particular aos Estados Unidos e por aí fora, é que compreendam que a democracia não se vai abolir a si própria. As massas gostam de saquear os bens dos outros. Não vão abdicar do direito de continuar a fazê-lo. No entanto, ainda existem, nos Estados Unidos e em muitos outros lugares, pequenos núcleos de pessoas razoáveis, e é possível que, em pequenos regiões locais, algumas pessoas, algumas autoridades naturais possam ganhar influência suficiente para induzi-las a separar-se do seu estado central. E se o fizerem, e se isso acelerar, se acontecer em muitos sítios simultaneamente, será quase impossível para o estado central esmagar um movimento como este. Porque, para esmagar um movimento como este, mais uma vez, a opinião pública tem de ser a favor e seria difícil persuadir o público a atacar, a matar, a destruir pequenos lugares que não fizeram mais do que declarar que desejam ser independentes dos Estados Unidos.
- Friedrich A. Hayek, The Constitution of Liberty (1978; Chicago: University of Chicago Press, 2005), p. 384. (Disponível na nossa biblioteca em português do Brasil. ↩︎
Nota do T.: Este texto corresponde ao capítulo 10 do livro Economia, Sociedade & História, disponível na nossa biblioteca.
Esta tradução foi feita a partir do excerto publicado no Instituto Mises.