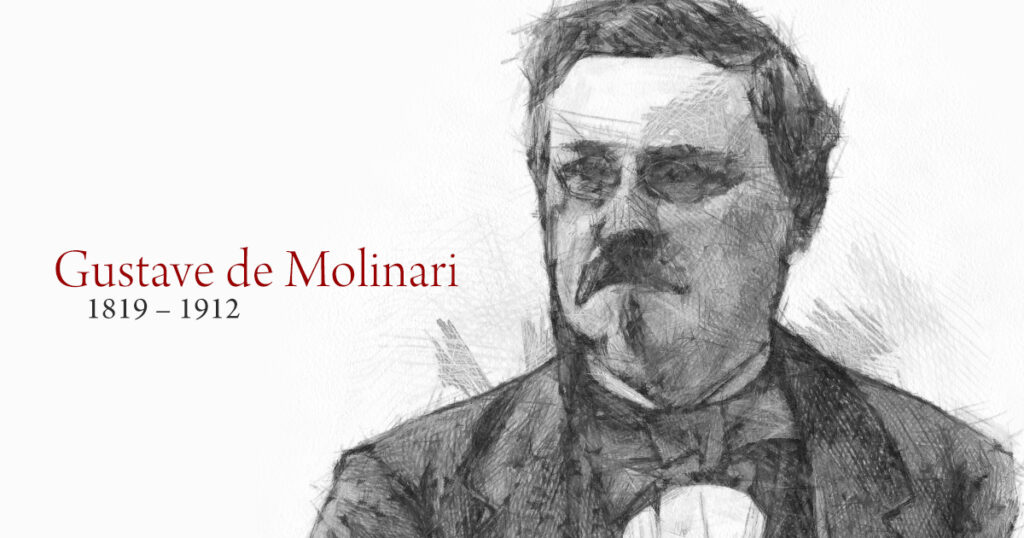Há duas maneiras de olhar para a sociedade. Segundo uns, nenhuma lei providencial e imutável presidiu à formação das diferentes associações humanas; organizadas de maneira puramente artificial pelos legisladores primitivos, podem, em consequência, ser modificadas ou refeitas por outros legisladores à medida que a ciência social progride . Neste sistema, o governo desempenha um papel significativo, porque é ele o depositário do princípio de autoridade e cabe-lhe a tarefa de modificar e refazer diariamente a sociedade.
Segundo outros, pelo contrário, a sociedade é um facto puramente natural; tal como a terra que a sustenta, move-se de acordo com leis gerais, pré-existentes. Neste sistema, não há ciência social propriamente dita; não há senão uma ciência económica que estuda o organismo natural da sociedade e que mostre como este funciona.
Qual é, neste último sistema, a função do governo e qual a sua organização natural, é o que propomos analisar.
I
Para bem definir e delimitar a função de governo, precisamos começar por investigar o que é a sociedade e qual o seu propósito.
A que impulso natural obedecem os homens ao reunirem-se em sociedade? Obedecem ao impulso ou, mais exactamente, ao instinto da sociabilidade. A raça humana é essencialmente sociável. Os homens são portadores do instinto de viver em sociedade.
Qual é a razão de ser desse instinto?
O homem experimenta uma multiplicidade de necessidades a cuja satisfação estão ligados prazeres e cuja não satisfação lhe causa sofrimento. Ora, só, isolado, não pode satisfazer senão de forma incompleta e insuficiente essas necessidades que o solicitam constantemente. O instinto de sociabilidade aproxima-o dos seus semelhantes, leva-o a entrar em comunicação com eles. Estabelece-se então, sob o impulso do interesse dos indivíduos assim aproximados, uma certa divisão do trabalho, necessariamente seguida de trocas; em suma, vemos fundar-se uma organização pelo meio da qual o homem pode satisfazer as suas necessidades muito mais completamente do que poderia se permanecesse isolado.
Esta organização natural chama-se sociedade.
O propósito da sociedade é, portanto, a satisfação mais completa das necessidades do homem; os meios são a divisão do trabalho e a troca.
Entre todas as necessidades do homem, há uma necessidade de uma espécie particular e que desempenha um enorme papel na história da humanidade: a necessidade de segurança.
Qual é esta necessidade?
Vivam isolados ou em sociedade, os homens estão, acima de tudo, interessados em preservar a sua existência e os frutos do seu trabalho. Se o sentido de justiça estivesse universalmente estendido sobre a terra; se, em consequência, cada homem se limitasse a trabalhar e a trocar os frutos do seu trabalho, sem sonhar em atentar contra a vida de outros homens ou em apropriar-se, pela violência ou pelo engano, dos frutos da sua indústria; se cada um tivesse, numa palavra, um horror instintivo a todo o acto prejudicial a outrem, é certo que a segurança existiria naturalmente na terra, e que nenhuma instituição artificial seria necessária para a estabelecer. Infelizmente, não é assim. O sentido de justiça não parece ser apanágio senão de certas naturezas elevadas, excepcionais. Entre as raças inferiores, não existe senão em estado rudimentar. Daí os inúmeros atentados, desde a origem do mundo, desde a época de Caim e de Abel, contra a vida e a propriedade das pessoas.
Daí também a fundação de estabelecimentos tendo como propósito garantir a cada um a posse pacífica da sua pessoa e dos seus bens.
A estas estabelecimentos deu-se o nome de governos.
Em qualquer lugar, mesmo nas povoações menos esclarecidas, encontramos um governo, tão geral e urgente é a necessidade da segurança à qual um governo provê.
Em qualquer lugar, os homens resignam-se aos mais duros sacrifícios, em vez de passarem sem governo, e portanto sem segurança, e não se pode dizer que ao agirem assim eles estejam errados.
Suponha-se, com efeito, que um homem acha constantemente ameaçado na sua pessoa e nos seus meios de subsistência. A sua primeira e mais constante preocupação não será a de se proteger dos perigos que o cercam? Esta preocupação, este cuidado, este trabalho absorverão necessariamente a maior parte do seu tempo, bem como as faculdades mais energéticas e mais activas da sua inteligência. Ele não poderá, portanto, aplicar à satisfação das suas outras necessidades senão um trabalho insuficiente e precário, e uma atenção fatigada.
Mesmo que este homem fosse forçado a abandonar uma parte muito considerável do seu tempo e do seu trabalho em favor de quem lhe garantisse a possa pacífica da sua pessoa e dos seus bens, não ganharia ele ainda assim com o negócio?
No entanto, não seria menor o seu interesse em obter a segurança ao mais baixo preço possível.
II
Se há uma verdade bem estabelecida na economia política, é esta:
Que em todas as coisas, para todos os produtos usados para satisfazer necessidades materiais ou imateriais, o consumidor está interessado em que o trabalho e o comércio permaneçam livres, pois a liberdade do trabalho e do comércio têm como resultado necessário e permanente reduzir ao máximo o preço das coisas.
E esta:
Que o interesse do consumidor de um qualquer produto deve sempre prevalecer sobre o interesse do produtor.
Ora, seguindo estes princípios, chegamos a esta conclusão rigorosa:
Que a produção da segurança deve, no interesse dos consumidores desse produto imaterial, permanecer sujeita à lei da livre concorrência.
Donde resulta:
Que nenhum governo deveria ter o direito de impedir outro governo de se estabelecer em concorrência consigo, ou obrigar os consumidores de segurança a se dirigirem exclusivamente a si para obterem este produto.
No entanto, devo dizer que até o presente se tem recuado diante desta consequência rigorosa do princípio da livre concorrência.
Um dos economistas que foi estendeu até mais longe a aplicação do princípio da liberdade, M. Charles Dunoyer, pensa «que as funções do governo não podem nunca cair no domínio da actividade privada»[1].
Trata-se, portanto, de uma excepção clara e evidente ao princípio da livre concorrência.
Esta excepção é tanto mais notável quanto única.
Sem dúvida, encontramos economistas que estabelecem excepções mais numerosas a este princípio; mas podemos ousadamente afirmar que estes não são economistas puros. Os verdadeiros economistas concordam geralmente em dizer, por um lado, que o governo se deve limitar a garantir a segurança dos cidadãos, e por outro lado, que a liberdade do trabalho e do comércio deve ser, para tudo o resto, inteira e absoluta.
Mas qual a razão de ser da excepção relativa à segurança? Por que razão especial não pode a produção de segurança ser abandonada à livre concorrência? Porque deve ela ser submetida a um outro princípio e organizada em virtude de um outro sistema?
Sobre este ponto, os mestres da ciência calam-se, e M. Dunoyer, que assinalou claramente a excepção, não investiga de todo o motivo em que ela se funda.
III
Somos, por conseguinte, levados a perguntar-nos se esta excepção é fundada, e se o pode ser aos olhos de um economista.
Repugna à razão crer que uma lei natural bem demonstrada possa comportar alguma excepção. Uma lei natural aplica-se sempre e em toda a parte, ou não é lei. Não creio, por exemplo, que a lei da gravitação universal, que rege o mundo físico, se encontre suspensa em nenhum caso e em nenhum ponto do universo. Ora, considero as leis económicas como leis naturais, e tenho tanta fé no princípio da liberdade do trabalho e do comércio quanta posso ter na lei da gravitação universal. Penso por isso que se este princípio pode sofrer perturbações, pelo contrário, não comporta qualquer excepção.
Mas, se é assim, a produção da segurança não deve ser subtraída à lei da livre concorrência; e, se isso acontecer, a sociedade inteira será prejudicada.
Ou isto é lógico e verdadeiro, ou os princípios sobre os quais a ciência económica se fundamenta não são princípios.
IV
É -nos portanto demonstrado a priori, a nós que temos fé nos princípios da ciência económica, que a excepção apontada anteriormente não tem qualquer razão de ser, e que a produção de segurança deve, como qualquer outra, estar sujeita à lei da livre concorrência.
Com esta convicção adquirida, que nos resta fazer? Resta-nos investigar como acontece que a produção de segurança não esteja de todo sujeita à lei da livre concorrência, como acontece que ela esteja sujeita a princípios diferentes.
Quais são estes princípios?
Os do monopólio e do comunismo.
Não há, no mundo, um único estabelecimento da indústria de segurança, um único governo que não assente no monopólio ou no comunismo.
A este propósito faremos, de passagem, uma simples observação.
Reprovando a economia política igualmente o monopólio e o comunismo nos diversos ramos da actividade humana onde até agora os descobriu, não seria estranho, absurdo, que os aceitasse na indústria da segurança?
V
Examinemos agora como acontece que todos os governos conhecidos estejam submetidos à lei do monopólio, ou organizados em virtude do princípio comunista.
Investiguemos primeiro o que se entende por monopólio e por comunismo.
É uma verdade de observação que quanto mais as necessidades do homem são urgentes, necessárias, mais consideráveis são os sacrifícios que ele aceita impor-se para as satisfazer. Ora, há coisas que se encontram em abundância na natureza, e cuja produção não requer senão um ligeiro trabalho; mas que, utilizadas para apaziguar essas necessidades urgentes, imprescindíveis, podem consequentemente adquirir um valor de troca fora de toda a proporção com o seu valor natural. Usaremos como exemplo o sal. Suponha-se que um homem ou uma associação de homens conseguem atribuir-se a exclusividade da produção e da venda de sal. É evidente que esse homem ou essa associação poderá elevar o preço desse produto bem acima do seu valor, bem acima do preço que atingiria sob o regime da livre concorrência.
Dir-se-á então que esse homem ou essa associação possui um monopólio, e que o preço do sal é um preço de monopólio.
Mas é evidente que os consumidores não consentirão livremente, de forma alguma, em pagar a sobretaxa abusiva do monopólio; haverá que obrigá-los, e, para os obrigar, haverá que empregar a força.
Qualquer monopólio assenta necessariamente na força.
Quando os monopolistas deixam de ser mais fortes que os consumidores que exploram, que sucede?
O monopólio acaba sempre por desaparecer, seja violentamente, seja como resultado de uma transacção amigável. O que é que o substitui?
Se os consumidores amotinados, insurrectos, se apoderaram da indústria do sal, com toda a probabilidade confiscarão essa indústria em seu proveito, e o seu primeiro pensamento será, não o de a abandonar à livre concorrência, mas antes o de a explorarem, em comum, por sua própria conta. Nomearão, consequentemente, um director ou um comité de direcção da exploração das salinas, ao qual atribuirão os fundos necessários para suportar as despesas da produção do sal; depois, como a experiência passada os tornou suspeitadores, desconfiados; como recearão que o director por eles designado se apodere da produção por sua própria conta, e reconstitua para seu próprio lucro, de forma aberta ou oculta, o antigo monopólio, elegerão delegados, representantes encarregados de votar os fundos necessários para as despesas de produção, de vigiar o seu uso, e de examinar se o sal é distribuído equitativamente entre todos os que a isso têm direito. Assim será organizada a produção de sal.
Esta forma de organização da produção recebeu o nome de comunismo.
Quando esta organização se aplica a um único produto, diz-se que o comunismo é parcial.
Quando ela se aplica a todos os produtos, diz-se que o comunismo é completo.
Mas, seja o comunismo parcial ou completo, a economia política não o admite mais do que admite um monopólio, do qual mais não é que uma transformação.
VI
O que acabou de se dizer acerca do sal não é obviamente aplicável à segurança? Não é essa a história de todas as monarquias e de todas as repúblicas?
Em toda a parte, a produção da segurança começou por ser organizada em monopólio, e em todo o lado, nos nossos dias, tende a organizar-se em comunismo.
Eis a razão.
Entre os produtos materiais e imateriais necessários ao homem, nenhum, com a possível excepção do trigo, é mais essencial, e não pode, por conseguinte, suportar uma forte taxa de monopólio. Nenhum, tão pouco, pode cair tão facilmente em monopólio.
Qual é, com efeito, a situação dos homens que têm necessidade de segurança? É a fraqueza. Qual é a situação daqueles que se propõem fornecer-lhes essa necessária segurança? É a força. Se fosse de outra forma, se os consumidores de segurança fossem mais fortes que os produtores, obviamente não pediriam a sua ajuda.
Ora, se os produtores de segurança são originalmente mais fortes do que os consumidores, não podem eles facilmente impor-lhes o regime de monopólio?
Em toda a parte, na origem das sociedades, vemos pois as raças mais fortes, mais guerreiras, atribuírem-se o governo exclusivo das sociedades; em toda a parte vemos essas raças atribuírem-se, em certas circunscrições mais ou menos vastas, consoante o seu número e a sua força, o monopólio da segurança.
E, sendo esse monopólio excessivamente lucrativo pela sua própria natureza, em toda a parte se vê também as raças investidas do monopólio da segurança entregarem-se a lutas encarniçadas, a fim de aumentar a extensão do seu mercado, o número dos seus consumidores forçados, e por conseguinte, o quociente dos seus lucros.
A guerra foi a consequência necessária, inevitável do estabelecimento do monopólio da segurança.
Como outra consequência inevitável, esse monopólio engendraria todos os outros monopólios.
Examinando a situação dos monopolizadores da segurança, os produtores dos outros produtos não poderiam deixar de reconhecer que nada no mundo era mais vantajoso que o monopólio. Eles seriam, por conseguinte, tentados, por sua vez, a aumentar pelo mesmo procedimento os benefícios da sua indústria. Mas para açambarcarem, em detrimento dos consumidores, o monopólio do produto que produziam, que lhes faltava? Faltava a força. Ora, essa força, necessária para oprimir as resistências dos consumidores interessados, não a possuíam de todo. Que fizeram eles? Obtiveram-na, finanças de permeio, dos que a tinham. Pediram e obtiveram, à custa de certas taxas, o privilégio exclusivo de exercer a sua indústria em certas e determinadas circunscrições. Trazendo a concessão desses privilégios boas quantidades de dinheiro aos produtores de segurança, o mundo cobriu-se rapidamente de monopólios. O trabalho e o comércio foram em todo o lado travados, acorrentados, e a condição das massas tornou-se a mais miserável possível.
No entanto, depois de longos séculos de sofrimentos, tendo-se as luzes pouco a pouco estendido pelo mundo, as massas que esta rede de privilégios sufocava começaram a reagir contra os privilegiados, e a exigir a liberdade, quer dizer, a supressão dos monopólios.
Houve então numerosas transacções. Na Inglaterra, por exemplo, que aconteceu? A raça que governava o país e que estava organizada numa companhia (o feudo), encabeçada por um director hereditário (o rei), e um conselho de administração também hereditário (a Câmara dos Lordes), fixava, a princípio, à taxa que lhe conviesse estabelecer, o preço da segurança de que tinha o monopólio. Entre os produtores de segurança e os consumidores não havia qualquer debate. Era o regime do a bel prazer. Mas, com a passagem do tempo, os consumidores, tendo adquirido a consciência do seu número e da sua força, sublevaram-se contra o regime do puro arbitrário, e conseguiram debater com os produtores o preço do produto. Para este efeito, designaram delegados que reuniram na Câmara dos Comuns, a fim de discutir o quociente do imposto, preço da segurança. Conseguiram assim ser menos oprimidos. No entanto, sendo os membros da Câmara dos Comuns nomeados sob influência imediata dos produtores de segurança, o debate não foi franco, e o preço do produto continuou a ultrapassar o seu valor natural.
Um dia, os consumidores assim explorados insurgiram-se contra os produtores e desapossaram-nos da sua indústria. Empreenderam então exercer eles mesmos essa indústria e escolheram com esse objectivo um director de exploração assistido por um conselho. Foi o comunismo substituindo-se ao monopólio. Mas o esquema não resultou de todo, e, vinte anos mais tarde, o monopólio primitivo foi reestabelecido. Só que os monopolistas tiveram a sensatez de não reestabelecer o regime do a bel prazer; aceitaram o livre debate sobre o imposto, tomando a precaução, no entanto, de corromper incessantemente os delegados do partido contrário. Colocaram à disposição desses delegados uma parte dos empregos da administração da segurança, e chegaram mesmo ao ponto de admitir os mais influentes no seio do seu conselho superior. Nada mais hábil certamente que tal conduta. No entanto, os consumidores de segurança acabaram por se aperceber destes abusos, e pediram a reforma do Parlamento. Muito tempo recusada, a reforma foi finalmente conquistada, e, a partir dessa época, os consumidores conseguiram um notável aligeiramento do seu fardo.
Em França, o monopólio da segurança, depois de ter, da mesma forma, sofrido vicissitudes frequentes e modificações diversas, acaba de ser revertida pela segunda vez. [Nota: pelos tumultos de 1848]. Como no passado em Inglaterra, a produção comum substituiu-se a este monopólio, primeiro para benefício de uma casta, depois em nome de uma determinada classe da sociedade. A universalidades dos consumidores, considerados como accionistas, designou um director encarregado, durante um certo período, da exploração, e uma assembleia encarregada de controlar os actos do director e da sua administração.
Contentar-nos-emos em fazer uma simples observação a respeito deste novo regime.
Tal como o monopólio da segurança devia logicamente engendrar todos os outros monopólios, o comunismo da segurança deve logicamente engendrar todos os outros comunismos.
Com efeito, das duas uma:
Ou a produção comunista é superior à produção livre, ou não o é.
Se o é, é-o não apenas para a segurança, mas para todas as coisas.
Se não o é, o progresso consistirá inevitavelmente em substituí-la pela produção livre.
Comunismo completo ou liberdade completa, eis a alternativa!
VII
Mas pode-se conceber que a produção da segurança seja organizada de outra forma que não monopólio ou comunismo? Pode-se conceber que ela seja abandonada à livre concorrência?
A esta questão os escritores ditos políticos respondem unanimemente: Não.
Porquê? Di-lo-emos.
Porque esses escritores, que se ocupam especialmente dos governos, não conhecem a sociedade; porque eles a consideram como uma obra de arte, que os governos têm como missão modificar ou refazer incessantemente.
Ora, para modificar ou refazer a sociedade, tem necessariamente de ser estar provido de uma autoridade superior à das diferentes individualidades de que ela se compõe.
Esta autoridade que lhes dá o direito de modificar ou refazer a sociedade a seu jeito, de dispor como bem lhes parecer das pessoas e das propriedades, os governos de monopólio afirmam tê-la recebido mesmo de Deus; os governos comunistas, da razão humana manifestada na maioria do povo soberano.
Mas esta autoridade superior, irresistível, os governos de monopólio e os governos comunistas possuí-la-ão verdadeiramente? Têm eles, de facto, uma autoridade superior à que poderiam ter governos livres? É o que importa examinar.
VIII
Se fosse verdade que a sociedade não se encontrasse naturalmente organizada; se fosse verdade que as leis segundo as quais ela se move devessem ser modificadas ou refeitas sem cessar, os legisladores precisariam necessariamente de uma autoridade imutável, sagrada. Continuadores da Providência sobre a terra, deveriam ser respeitados quase como iguais a Deus. Se assim não fosse, não lhes seria impossível cumprir a sua missão? Não se intervém, com efeito, nos assuntos humanos, não se empreende dirigi-los, regulá-los, sem ofender diariamente uma multiplicidade de interesses. A menos que os depositários do poder sejam considerados como pertencendo a uma essência superior ou como estando incumbidos de uma missão providencial, os interesses lesados resistem.
Daí a ficção do direito divino.
Esta ficção foi sem dúvida a melhor que se pode imaginar. Se se conseguir convencer a multidão de que o próprio Deus elegeu certos homens ou certas raças para fornecer leis à sociedade e para a governar, ninguém sonhará evidentemente em revoltar-se contra estes eleitos da Providência, e tudo o que o governo fizer será bem feito. Um governo de direito divino é imperecível.
Com uma única condição: que se acredite no direito divino.
Se se tiver o cuidado, com efeito, de pensar que os condutores de povos não recebem as suas inspirações directamente da Providência, que obedecem a impulsos puramente humanos, o prestígio que os envolve desaparecerá, e resistir-se-á irreverenciosamente às suas decisões soberanas, tal se resiste a tudo o que vem dos homens, a menos que a sua utilidade seja claramente demonstrada.
É também curioso ver com que cuidado os teóricos da lei divina se esforçam para estabelecer o carácter sobre-humano das raças com a posse do governo dos homens.
Ouçamos, por exemplo, o Sr. Joseph de Maistre:
«O homem não pode fazer soberanos. No máximo pode servir como instrumento para desapossar um soberano e entregar os seus Estados a um outro soberano já príncipe. De resto, nunca existiu uma família soberana a que se pudesse atribuir uma origem plebeia. Se este fenómeno surgisse, isso seria uma época do mundo.
«… Está escrito: Sou eu que faço os soberanos. Esta não é uma frase de igreja, uma metáfora de pregador; é a verdade literal, simples e palpável. É uma lei do mundo político. Deus faz os reis, literalmente. Ele prepara as raças reais, alimenta-as no meio de uma nuvem que esconde a sua origem. Aparecem então coroadas de glória e de honra; instalam-se.»[2]
Segundo este sistema, que encarna a vontade da Providência em alguns homens e que reveste estes eleitos, estes ungidos, de uma autoridade quase-divina, os súbditos não têm evidentemente qualquer direito; devem submeter-se, sem exame, aos decretos da autoridade soberana, como se se tratasse de decretos da própria Providência.
O corpo é o instrumento da alma, disse Plutarco, e a alma é o instrumento de Deus. Segundo a escola do direito divino, Deus escolheria certas almas e servir-se-ia delas como instrumentos para governar o mundo.
Se os homens tivessem fé nesta teoria, certamente nada poderia abalar um governo de direito divino.
Por desgraça, eles cessaram completamente de ter fé nela.
Porquê?
Porque um belo dia eles começaram avisadamente a examinar e a raciocinar, e apenas pela análise e pelo raciocínio, descobriram que os seus governantes não os dirigiam melhor do que eles se poderiam dirigir a si mesmos, simples mortais sem comunicação com a Providência.
O livre exame depreciou a ficção do direito divino, a tal ponto que os súbditos dos monarcas e dos aristocratas de direito divino já não lhes obedecem senão na medida em que crêem ter interesse em obedecer-lhes.
A ficção comunista teve melhor sorte?
Segundo a teoria comunista, da qual Rousseau é o sumo sacerdote, a autoridade já não desce do alto: vem de baixo. O governo já não a pede à Providência, pede-a aos homens reunidos, à nação una, indivisível e soberana.
Eis o que supõem os comunistas, partidários da soberania do povo. Eles supõem que a razão humana tem o poder de descobrir as melhores leis, a organização mais perfeita que convém à sociedade; e que, na prática, é na sequência de um debate livre entre visões opostas que estas leis se descobrem; que se não houver unanimidade, se houver ainda discórdia depois do debate, é a maioria que tem razão, como encerrando um maior número de individualidades razoáveis (estas individualidades, bem entendido, supõem-se iguais, caso contrário os andaimes desabam); como consequência, afirmam que as decisões da maioria devem fazer lei, e que a minoria é obrigada a submeter-se-lhe, mesmo quando ferirem as suas convicções mais arraigadas e os seus mais caros interesses.
Esta é a teoria; mas, na prática, terá a autoridade das decisões da maioria esse carácter irresistível, absoluto que se lhe supõe? É ela sempre, em todos os casos, respeitada pela minoria? Pode sê-lo?
Tomemos um exemplo.
Suponhamos que o socialismo se consegue propagar entre as classes trabalhadoras dos campos, tal como já se propagou entre as classes trabalhadoras das cidades; que se encontra, em consequência, como maioria no país, e que, tirando partido dessa situação, envia à Assembleia legislativa uma maioria socialista e nomeia um presidente socialista; suponhamos que esta maioria e este presidente, investidos de autoridade soberana, decretam, tal como o pedia um famoso socialista, a imposição de um imposto de três mil milhões sobre os ricos, a fim de organizar o trabalho dos pobres. Será provável que a minoria se submeta pacificamente a esta espoliação iníqua e absurda, mas legal, mas constitucional?
Não sem dúvida, ela não hesitará em desconsiderar a autoridade da maioria e em defender a sua propriedade.
Sob este regime, como sob o precedente, não se obedece pois aos depositários da autoridade senão na medida em que se crê ter interesse em obedecer-lhes.
O que nos leva a afirmar que o fundamento moral do princípio de autoridade não é nem nem mais sólido nem maior, sob o regime de monopólio ou de comunismo, do que o seria sob um regime de liberdade.
IX
Mas admita-se que os partidários de uma organização artificial, monopolistas ou comunistas, têm razão; que a sociedade não seja naturalmente organizada, e que sobre os homens recaia incessantemente a tarefa de fazer e desfazer as leis que a regem, veja-se em que lamentável situação se encontrará o mundo. A autoridade moral dos governantes não se apoiando, na realidade, senão nos interesses dos governados, e tendo estes uma tendência natural para resistir a tudo o que fira o seu interesse, será necessário que a força material preste incessante socorro à autoridade não reconhecida.
Os monopolistas e os comunistas, de resto, compreenderam perfeitamente esta necessidade.
Se alguém, disse, M. de Maistre, tenta subtrair-se à autoridade dos eleitos de Deus, que seja entregue ao braço secular, que o carrasco faça o seu ofício.
Se alguém ignorar a autoridade dos eleitos do povo, dizem os teóricos da escola de Rousseau, se resistir a qualquer decisão da maioria, que seja punido como criminoso face ao povo soberano, que o cadafalso faça justiça.
Estas duas escolas, que tomam como ponto de partida a organização artificial, levam então necessariamente ao mesmo termo, ao TERROR.
X
Que nos seja permitido agora formular uma simples hipótese.
Suponha-se uma sociedade nascente: os homens que a compõem põem-se a trabalhar e a trocar os frutos do seu trabalho. Um instinto natural revela a esses homens que a sua pessoa, a terra que ocupam e cultivam, os frutos do seu trabalho, são sua propriedade, e que ninguém, excepto eles mesmos, tem o direito de delas dispor ou de nelas tocar. Este instinto não é hipotético, ele existe. Mas sendo o homem uma criatura imperfeita, acontece que este sentimento do direito de cada um sobre a sua pessoa ou sobre os seus bens não se encontre no mesmo grau em todas as almas, e que certos indivíduos atentem pela violência ou pela astúcia contra pessoas ou contra a propriedade de outrem.
Daí a necessidade de uma indústria que previna ou reprima estas agressões abusivas da força ou da astúcia.
Suponhamos que um homem ou uma associação de homens vem então e diz:
Eu encarrego-me, mediante uma retribuição, de prevenir ou reprimir os atentados contra as pessoas e as propriedades.
Que aqueles, pois, que queiram colocar ao abrigo de toda a agressão as suas pessoas e as suas propriedades se dirijam a mim.
Antes de negociar com este produtor de segurança, que farão os consumidores?
Em primeiro lugar, investigarão se ele é suficientemente poderoso para os proteger.
Em segundo lugar, se ele dá garantias morais tais que não se possa temer da sua parte nenhuma das agressões que ele se encarrega de reprimir.
Em terceiro lugar, se nenhum outro produtor de segurança, apresentando iguais garantias, está disposto a fornecer-lhes este produto sob melhores condições.
Estas condições serão de vários tipos.
Para estar em estado de garantir aos consumidores segurança plena das suas pessoas e das suas propriedades, e, em caso de danos, de lhes distribuir uma compensação proporcional à perda sofrida, será necessário, com efeito:
1.° Que o produtor estabeleça certas penas contra os ofensores das pessoas e os raptores das propriedades, e que os consumidores aceitem submeter-se a estas penas, no caso de cometerem eles mesmos sevícias contra as pessoas e as propriedades;
2.º Que ele imponha aos consumidores alguns inconvenientes, tendo como propósito facilitar-lhe a descoberta dos autores de delitos;
3.º Que receba regularmente, para cobrir as suas despesas de produção bem como o lucro natural da sua indústria, um certa taxa, variável consoante a situação dos consumidores, as ocupações particulares a que se dediquem, a extensão, o valor e a natureza das suas propriedades.
Se estas condições, necessárias para o exercício desta indústria, convierem aos consumidores, o negócio será fechado; caso contrário os consumidores ou passarão sem segurança, ou se dirigirão a outro produtor.
Agora se se considerar a natureza particular da indústria de segurança, perceber-se-á que os produtores serão obrigados a restringir a sua clientela a certas circunscrições territoriais. Não fariam, evidentemente, despesas se se dessem conta de manter polícia em localidades onde contassem com poucos clientes. A clientela agrupar-se-á naturalmente em torno da sede da sua indústria. Os produtores não poderão, no entanto, abusar desta situação para fazer a lei aos consumidores. Em caso de aumento abusivo no preço da segurança, estes terão, com efeito, a possibilidade de se tornarem clientes de um novo empreendedor, ou de um empreendedor vizinho.
Desta faculdade deixada ao consumidor de comprar onde melhor lhe parecer a segurança, nasce um constante emulação entre todos os produtores, cada se esforçando – através da atracção de um baixo preço ou de uma justiça mais pronta, mais completa, melhor – por aumentar a sua clientela ou por a manter[3].
Que o consumidor não seja livre, antes pelo contrário, de comprar a segurança onde melhor lhe parecer, e imediatamente se vê abrir-se um grande caminho à arbitrariedade e a má gestão. A justiça torna-se cara e lenta, a polícia vexatória, a liberdade individual deixa de ser respeitada, o preço da segurança é abusivamente exagerado, desigualmente aplicado, segundo a força, a influência de que dispõe esta ou daquela classe de consumidores, as seguradoras envolvem-se em lutas encarniçadas para arrancar consumidores umas às outras; vemos, numa palavra, surgir em fila todos os abusos inerentes ao monopólio ou ao comunismo.
Sob um regime de livre concorrência, a guerra entre os produtores de segurança deixa totalmente de ter razão de ser. Porque se guerreariam eles? Para conquistar consumidores? Mas os consumidores não se deixariam conquistar. Eles evitariam certamente fazer assegurar as suas pessoas e as suas propriedades por homens que houvessem atentado, sem escrúpulos, contra as pessoas e as propriedades dos seus concorrentes. Se um vencedor audacioso quisesse impor-lhes a lei, apelariam imediatamente à ajuda de todos os consumidores livres que estivessem como eles sob a ameaça dessa agressão, e fariam justiça. Assim como a guerra é a consequência natural do monopólio, a paz é a consequência natural da liberdade.
Sob um regime de liberdade, a organização natural da indústria da segurança não diferiria da de outras indústrias. Em pequenos cantões um simples empreendedor poderia bastar. Este empreendedor legaria essa indústria ao seu filho, ou cedê-la-ia a outro empreendedor. Nos cantões com maior extensão, uma empresa reuniria isoladamente recursos suficientes para exercer essa convenientemente essa importante e difícil indústria. Bem dirigida, essa companhia poderia facilmente perpetuar-se, e a segurança perpetuar-se-ia com ela. Na indústria da segurança, bem como na maioria dos outros ramos da produção, este último modo de organização acabaria provavelmente por substituir o primeiro.
Dum lado, seria a monarquia, do outro, seria a república; mas a monarquia sem o monopólio, e a república sem o comunismo.
Das duas partes seria a autoridade aceitada e respeitada em nome da utilidade, e não a autoridade imposta pelo terror.
Que uma tal hipótese possa realizar-se, eis sem dúvida o que será contestado. Mas, mesmo correndo o risco de ser qualificado como utopista, diremos que isso não é contestável, e que um exame atento dos factos resolverá cada vez mais, a favor da liberdade, o problema do governo, tal como todos os outros problemas económicos. Estamos plenamente convencidos, no que nos concerne, que se estabelecerão um dia associações para exigir a liberdade do governo, tal como se estabeleceram para reclamar a liberdade do comércio.
E não hesitamos em acrescentar que depois de este último progresso ter sido realizado, todos os obstáculos artificiais à livre acção das leis naturais que governam o mundo económico tendo desaparecido, a situação dos diferentes membros da sociedade tornar-se-á a melhor possível.
- No seu notável livro sobre a liberdade do trabalho, t. III, p. 363, ed. Guillaumin. ↩︎
- Do princípio gerador das constituições políticas. – Prefácio. ↩︎
- Adam Smith, cujo admirável poder de observação se estende a todas as coisas, diz que a justiça ganhou, em Inglaterra, com a concorrência entre os diversos tribunais: «Os honorários dos tribunais, disse ele, parecem ter sido originalmente a principal receita dos diferentes tribunais de justiça em Inglaterra. Cada tribunal esforçava-se por atrair para si tanto negócio quanto conseguisse, e estava, para esse efeito, disposto a tomar conhecimento de muitos processos que não estariam originalmente sob a sua jurisdição. O tribunal do banco do rei, instituído apenas para o julgamento de causas criminais, tomava conhecimento das acções cíveis; o queixoso alegando que o réu, não lhe fazendo justiça, era assim culpado de alguma transgressão ou contravenção penal. O tribunal do tesouro, instituído para cobrar a receita do rei, e para impor o pagamento apenas daquelas dívidas que fossem devidas ao rei, tomava conhecimento de todas as restantes dívidas contratuais; o queixoso alegando que não podia pagar ao rei porque o réu não lhe pagava a ele. Em consequência destas ficções, estava muitas vezes ao dispor das partes em litígio escolherem o tribunal em que queriam ser julgadas e cada tribunal tentava atrair tantas causas quantas podia, pela alegada diligência e imparcialidade que colocaria em despachar os processos. A admirável constituição dos tribunais de justiça, em Inglaterra, foi talvez, originalmente, em grande medida formada por esta emulação que no passado teve lugar entre os respectivos juízes; cada juiz esforçando-se por dar, no seu próprio tribunal, o mais rápido e eficaz remédio que a lei admitisse para cada tipo de injustiça.» (A Riqueza das Nações, Livro V, Capítulo I) ↩︎
Sobre o artigo
Este artigo apareceu no Journal des Économistes em 15 de Fevereiro de 1849 com o título «De la production de la sécurité». O texto original do artigo poder ser lido aqui.
Gustave de Molinari (1818-1912), economista liberal e editor do Journal des Économistes de 1881 a 1909, expõe as suas ideias, extremamente avançadas, mesmo em relação aos dias de hoje, sobre a produção de segurança. As suas ideias serão esquecidas durante décadas. No entanto, a concepção segundo a qual a segurança é um serviço como os outros e que poderia ser fornecido por produtores (agências) em competição entre si, não tinha e não tem nada de extraordinariamente difícil de imaginar e aceitar. Por outro lado, o que é extraordinário é que esta ideia tenha levado tanto tempo até ser conhecida e discutida.
Neste artigo, através do discurso sobre a segurança, começa também a transparecer a concepção visão dos governos em competição entre si. Essa ideia será elaborada e apresentada por Paul Emile de Puydt, com o título Panarchie num artigo publicado em 1860 na Revue Trimestrielle, Bruxelas.